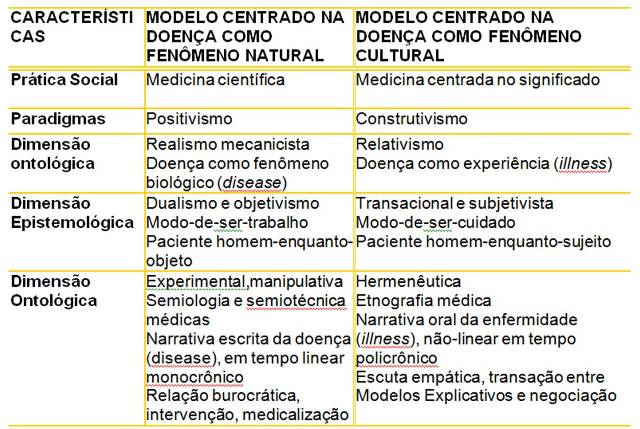
Pressão, perda de autonomia no trabalho e pânico.
Um estudo de caso sobre um sonho de liberdade
Pressure, loss of autonomy in work and panic. A case study about a fream of freedom
Janete de Paiva Borges
Resumo
A presente monografia resulta do estudo de caso de um portador de síndrome do pânico, atendido por mim em psicoterapia. Objetivamos identificar e dissecar os sentidos dos sintomas subjacentes ao adoecimento, por intermédio da metodologia fenomenológica em pesquisa, com perspectiva e atuação gestálticas. No caso em apreço, evidenciou-se uma estreita correlação entre alguns aspectos da organização do trabalho, tais como a pressão e a falta de autonomia na execução da tarefa e o desencadeamento dos sintomas. Desta forma, se fez necessário explorar outros campos teóricos, como os Estudos Organizacionais (que abarcam conceitos de ordem antropológica, sociológica, entre outros), para melhor compreensão do fenômeno, tendo em vista suas peculiaridades.
Palavras-Chave: Síndrome do Pânico; Fenomenologia; Gestalt; Organização do Trabalho.
Abstract
This paper is a result of a syndrome of panic case study, which patient was treated by me on psychotherapy. We aim identify and dissect the meanings of their underlying symptoms, through phenomenological methodology in research, with Gestalt approach and action. In this case, was evidenced a very close correlation between some aspects of the organization of work, like pression and lack of autonomy in carrying out the task, and the onset of the symptoms. Thus, it was necessary explore another theoretical fields, like Organizational Studies (which cover concepts of anthropological and sociological order, among others), to better understand the phenomenon, in view of their own peculiarities. .
Key-words: Syndrome of Panic; Phenomenology; Gestalt; Organization
of Work.
Introdução
Pelo trabalho, os seres humanos atingem a paz consigo mesmos.
Diderot
Diversos teóricos e pesquisadores enfatizam o lugar do trabalho enquanto
estruturante psíquico e pilar fundante da existência humana. À
luz da avaliação social, é o trabalho quem confere dignidade,
status, identidade e valor ao homem de nosso tempo. A ação que
este homem produz e que o mantém é, de certo modo, o elo que o
introduz na cadeia social, e o faz ser por ela reconhecido. Os efeitos psicossociais
da exclusão que se abate sobre os desempregados e aposentados já
foram e ainda são largamente debatidos, bem como os efeitos nocivos do
trabalho estressante e ou sem sentido sobre a saúde do ser humano. Nossa
intenção aqui não é rever o lugar e o valor do trabalho
enquanto pilar fundante na constituição biopsicossocial do sujeito
em nossa estrutura social - o que já está posto em inúmeros
estudos e nos permite avançar para outros rumos.
De igual forma, não pretendemos discorrer especificamente sobre a síndrome do pânico. Também sobre este tema, há uma vasta produção acadêmica à disposição do leitor. O que pretendemos com a discussão a que ora nos propomos é abordar a questão da Síndrome do Pânico, em um contexto que procura desvelar o sentido específico da doença na vida do cliente em apreço. À medida que a psicoterapia que deu início a este estudo evoluiu, percebemos, dentre outros, uma correlação entre o adoecimento do cliente e determinados aspectos da organização do seu trabalho, constantemente presentes em sua fala. Poderia ser outro sujeito, para o qual o transtorno surgisse com um sentido diverso, peculiar. Neste caso, tratou-se de uma pessoa, em cuja trajetória de vida o adoecimento esteve estreitamente vinculado à necessidade de encontrar-se enquanto protagonista de sua história, especialmente no que tange à sua atividade laborativa - questão proeminente em sua vida.
Procuramos, assim, refletir sobre o lugar da insatisfação gerada no exercício da atividade deste trabalhador, sua “despersonalização” enquanto sujeito que precisa sentir-se pleno de autonomia na condução de seu projeto de vida e carreira, no contexto de seu adoecimento. Embora não seja nosso foco discorrer sobre a relação do trabalhador com os modos de produção, conforme já dissemos; para efeitos de contextualização, precisaremos, ainda que rapidamente, adentrar o mundo do trabalho, em algumas de suas especificidades, em capítulo posterior. Justificamos tal incursão a partir da concepção holística que temos da problemática do adoecimento humano, para a qual concorrem fatores do campo relacional do homem e, não apenas, seu organismo biológico.
Observamos nos diversos estudos e leituras disponíveis, que a sobrecarga de trabalho – especialmente no que tange às pressões por produção e resultados, mina as energias e a motivação do trabalhador, favorecendo o surgimento de diferentes processos adoecedores. Aliado a isso, a impossibilidade de auto-gerenciar tarefas e horários conforme seu biorritmo pessoal, bem como ser privado do acesso ao sentido de sua tarefa, configura-se como um cerceamento à autonomia do trabalhador, como ser criativo e único.
Expomos em paralelo, e em conjunção com a perda da autonomia no trabalho e a pressão organizacional, características idiossincráticas do sujeito - como sua forma de perceber a realidade, que propiciaram um desequilíbrio emocional e fisiológico. Discutimos de que modo tais restrições no campo perceptivo dificultaram a visualização de formas mais satisfatórias de lidar com tais situações. Em contrapartida, a ampliação deste mesmo campo possibilitou a reelaboração de significados até então atribuídos à realidade, o reconhecimento de si mesmo enquanto protagonista de sua história. Este foi e é, a nosso ver, um movimento crucial para desencadear o processo de remissão e ou extinção dos sintomas.
A metodologia por nós utilizada foi a de estudo de caso, que compreendeu as etapas de delimitação, coleta, análise e interpretação dos dados e redação do relatório. Tais etapas se deram sobre a égide da pesquisa do tipo fenomenológico-hermenêutico de tendência dialética, que pressupõe, para além da dialogicidade entre pesquisador e sujeito, a possibilidade do acréscimo de significados outros, à medida que dialoga, a posteriori, com seus leitores.
1. Pânico à solta: que medo é este?
Conforme esclarecemos na introdução, não faremos um histórico da Síndrome do Pânico (SP) aqui, nem comentaremos aspectos neurofisiológicos associados ao quadro, por não ser nosso foco. Aos interessados nestes e outros aspectos tais como os psicoendocrinológicos e psicofisiológicos envolvidos nos processos de adoecimento, bem como no alcance da atuação do próprio organismo nos processos de cura, recomendo, em especial, a leitura dos livros de Cousins (1993), Rossi (2003) e Ballone (2002), elencados nas referências bibliográficas deste trabalho. Vamos, por ora, fazer apenas algumas considerações que julgamos importantes, para situar rapidamente o leitor na questão, antes de seguirmos adiante.
Em termos estatísticos, Von Flach (2000) informa que o transtorno do pânico acomete de 2 a 4% da população mundial, ocorrendo nas faixas dos 20 aos 40 anos. Tendo em vista que esta é a faixa em que o indivíduo mais produz, pode-se pressupor que o surgimento deste transtorno, para além do sofrimento pessoal, adquira ares de problema social.
Conforme Ballone, Neto e Ortolani (2002), os sintomas da SP incluem falta de ar, parestesias, sudorese, enjôo, palpitações, tremores, náusea, medo de descontrolar-se, enlouquecer ou morrer. A caracterização do quadro se dá com a recorrência dos ataques, que podem durar de minutos a horas. O autor elenca, entre algumas características dos acometidos deste mal: a tendência à preocupação excessiva com problemas do cotidiano; o bom nível de criatividade; o excesso de controle, com expectativas altas; pensamento rígido, competência e confiabilidade. Em paralelo, teriam tendência a subestimar suas próprias necessidades, reprimir sentimentos e conflitos íntimos. Tal modo de funcionamento predisporia a pessoa a uma situação de estresse acentuado; o que, desencadeando alterações bioquímicas no cérebro, colaboraria para o desencadeamento das crises.
A partir de
uma primeira crise, a ansiedade e o receio de “sofrer” outras, passam
a ser figura na vida do “doente”; ou seja, mesmo sem haver um estímulo
tangível e evidenciado externamente, há um forte medo de vivenciar
uma situação
análoga, o que passa, então, a dominar o pensamento desta pessoa.
Na tentativa de evitar, a todo custo, uma nova crise, a pessoa termina por limitar
sensivelmente seu cotidiano, sua qualidade de vida, privando-se de práticas
até então usuais.
Apesar de não se relacionar o desencadeamento das crises com nenhum estímulo
clara ou rapidamente identificável, podemos, durante o processo psicoterapêutico,
compreendê-lo dentro de um contexto em que se termina por encontrar causas
subjacentes, ou “gatilhos” como os chama Rodrigues (2008): morte
ou doença de cônjuge, separação conjugal, nascimento
ou perda de um filho, início de um novo emprego, doença incapacitante,
problemas financeiros, estresse no trabalho, entre outros.
Pinheiro (2004) avalia que as pessoas que abrem um quadro como este normalmente
tendem a passar por cima de seus próprios limites, se voltando para fora
de si mesmas, para os outros ou para metas como carreira profissional etc. Ao
negligenciar algumas de suas necessidades individuais, o pânico surgiria
como indício deste desequilíbrio, resultante de algo na forma
como essa pessoa lida e se porta diante da sua realidade.
Ballone (2002) também privilegia a questão perceptiva do doente, ao explicitar que cada sujeito tem uma relação existencial própria com “sua” realidade. Tal percepção se estruturaria por intermédio de bases orgânicas - periférica e central, e de uma base psíquica, compreendida pelos elementos emocionais envolvidos na consciência desta realidade. Para tanto, seriam elementos coadjuvantes seus valores éticos, morais e culturais. A citação de Samuel Johnson, feita por Kleinman (1988, p. 170), descrevendo a forma como um doente percebe seu sofrimento, cabe bem aqui: “But what can a sick man say, but that He is sick? His thoughts are necessarily concentrated in himself; he neither receives nor can give delight; his inquiries are after alleviations of pain, and his effors are to catch some momentary comfort.”(1)
Pinheiro (2004) trabalha com a hipótese de que o aumento de incidência do transtorno do pânico tenha se dado em função de características do panorama sócio-econômico-cultural da atualidade. Segundo ele, seria natural imaginar que modificações no contexto vivencial do ser humano desencadeassem, também, modificações em sua subjetividade. Assim, o estresse, a incerteza e a insegurança - próprios desta era, forneceriam um ambiente propício para gerar a análoga sensação apavorante (própria da síndrome) de que algo muito ruim possa vir a acontecer a qualquer momento. No caso em pauta, a hipótese de Pinheiro nos parece bastante viável, tendo em vista o contexto vivencial do cliente, representado, em grande medida, por seu trabalho. Nos estudos específicos acerca do panorama organizacional atual, que abordaremos mais adiante, encontramos elementos que nos permitem contextualizar nossos dois vértices.
Os autores elencados em nossas referências bibliográficas e não diretamente ligados à Fenomenologia e ou à Gestalt, foram por nós escolhidos em virtude de defenderem idéias que, de alguma forma, se coadunam com tais perspectivas. De tal feita, observam o fenômeno por um viés existencial-humanista, em que se preserva a concepção holística do adoecimento e do sofrimento humano - ou seja, não restritos aos domínios dos processos biológicos ou psicológicos do indivíduo, isoladamente, mas sempre circunscritos pelo contexto no qual e com o qual se produzem e reproduzem. Um bom exemplo é o depoimento de Rodrigues:
“Afastados da tentativa de explicação dos atos humanos como sucedâneos de causas “interiores” ou “exteriores” que nos cabe descobrir, buscaremos no território das motivações, onde os sentidos se estabelecem, o material para o nosso estudo [ ...] ao refletirmos sobre o pânico não intentamos estabelecer uma cadeia de nexos causais que permita uma explicação “melhor” ou “mais aprofundada” do fenômeno. O nosso interesse é, em vez disso, nos abrirmos para a compreensão do sentido que se dá subjacente ao mesmo” (2006, p.39).
2. Da contribuição da Gestal - Terapia
Estivemos, modestamente,
com este estudo, tentando obedecer ao que determina a premissa básica
da Psicologia da Gestalt: observar o fenômeno em seu contexto total, ao
invés de decompô-lo em partes e analisar cada uma delas (a famosa
assertiva “o todo é diferente da soma de suas partes”). Por
isso mesmo, quisemos manter a perspectiva do contexto organizacional no qual
surge nosso fenômeno em pauta. Partimos, então, da concepção
existencial que representa um dos pilares onde se assenta o pensamento gestáltico,
e que pergunta sobre o lugar do ser no mundo. Não perdemos de vista o
fato de termos fé em que este ser seja capaz de se auto-regular.
Dentro da visão gestáltica, o adoecimento toma lugar quando o indivíduo vivencia situações de necessidades autênticas interrompidas ou não-satisfeitas. Em função desta impossibilidade, se veria obrigado a recorrer a estratégias que assegurem sua sobrevivência e integridade, as quais poderiam ser entendidas como mecanismos de bloqueio do ciclo de contato, aos quais nos referiremos pouco mais adiante.
Da Gestalt-Terapia, desta forma, contamos com a contribuição de alguns conceitos-chave, que nos auxiliam a pensar no fenômeno enquanto parte de um todo que o afeta e é por ele afetado. Recordamos que todos estes conceitos decorrem de teorias e escolas precedentes e que constituem as raízes da abordagem gestáltica. Vamos a eles:
O conceito de holística, proposta teórica formulada por Jan Smuts. Perls, a partir dele, estabelece que:
Em psicoterapia, o conceito de holística nos dá um instrumento para lidar com o homem global [...] agora podemos ver como suas ações mentais e físicas estão entrelaçadas. Por esta perspectiva, o trabalho psicoterapêutico deixa de ser uma escavação do passado, para se tornar uma experiência de viver no presente. Nesta situação de vida, o paciente aprende por si como integrar seus pensamentos, sentimentos e ações, não só quando está no consultório, mas no curso da vida cotidiana. O neurótico não se sente como uma pessoa total. Sente-se como se seus conflitos e vivências inacabadas o estivessem rasgando em pedaços (1985, p.30).
Ribeiro também tangencia o conceito holístico, via teoria organísmica, de Kurt Goldstein, que afirma ser o indivíduo um todo unificado, um campo integrado e não dividido em sentimentos, sensações, emoções etc.
O conceito de organismo como um todo: sobre ele, Ribeiro destaca:
O organismo é um sistema organizado, com o todo diferenciado em suas partes. O todo não pode ser compreendido pelo estudo das partes isoladas. O todo é o seu próprio princípio regulador. Não existe uma lei que, regulando as partes, formaria ou explicaria o todo. (op.cit,p. 107)
Alguns cientistas atuais, felizmente, denunciam a desconsideração de alguns conceitos da Gestalt, em algumas áreas do conhecimento mais estreitamente biológicas e as implicações disso. Como, por exemplo, aponta Damásio:
[...] ausência notável de uma noção de organismo na ciência cognitiva e na neurociência [...] o cérebro foi consistentemente separado do corpo em vez de ser visto como parte de um organismo vivo e complexo. A concepção de um organismo integrado [...] já aparecia na obra de pensadores como [...] Goldstein [...] mas as suposições teóricas que vêm pautando a ciência cognitiva e a neurociência não têm feito muito uso das perspectivas alicerçadas no organismo e na evolução (2000, p.61)
Em relação aos conceitos de figura e fundo, de acordo com Ribeiro:
O organismo se expressa ora como figura ora como fundo. A figura é tudo aquilo que emerge do fundo e o diferencia. A figura é, portanto, a principal atividade do organismo. Dentre as diversas atividades do organismo, aquela que se destaca é a figura. O fundo se apresenta como uma realidade contínua, que circunda a figura e lhe dá limites. Surgem sempre novas figuras quando o organismo inicia uma atividade diferente e, dependendo do que se vai fazer, a natureza do organismo faz surgir um tipo ou outro de figura (1985, p.109).
Goldstein, citado
por Ribeiro, distingue entre figura natural e não natural. A primeira
ocorre
[...] quando existe uma relação natural entre a figura e a totalidade do organismo e ainda, quando representa uma preferência da pessoa e quando o comportamento é ordenado, flexível e apropriado para a situação. A não-natural se apresenta isolada do organismo total e seu fundo é também uma parte isolada do organismo, representa uma tarefa imposta à pessoa e resulta em um comportamento rígido e mecânico (1939, apud op.cit. p.109).
De acordo com Ginger (1995, apud Alvim, p. 47-48), “só o claro reconhecimento da figura dominante permitirá a satisfação da necessidade, tornando o organismo disponível para uma nova atividade física ou mental”.
O de campo, originalmente descrito pela Teoria de Campo, de Kurt Lewin, foi utilizado por Perls, compreendendo uma noção dinâmica e não estática. Ribeiro (op. cit.) esclarece que o campo tem diversos pontos e fontes de força, formando uma rede. A percepção da pessoa dependeria desta rede - do modo como ela é sentida e vivenciada pelo organismo (um sistema físico-químico). Assim, o comportamento deste organismo não poderia ser considerado unicamente em função de sua realidade interna, haja vista que só é emitido em função do e no campo no qual se dá, ou seja, na relação existente entre ambos. Koffka afirmava a necessidade de descobrir as forças subjacentes à organização do campo, seus objetos e eventos separados e as forças existentes entre eles, para estudar o comportamento como um evento no campo psicofísico.
Já no que tange ao conceito de tensão, conforme Ribeiro (op. cit., p. 104), a tensão seria um estado alterado de uma região do organismo em relação à outra, tendendo a espalhar-se para outras regiões ou sistemas. A pessoa tensa pode ter seu funcionamento obliterado - não conseguir pensar corretamente, não dormir etc.
Outro conceito, que trata de necessidade, é descrito a seguir: Ribeiro (op. cit., 104), a partir da Teoria de Campo, de Kurt Lewin, diz que “uma necessidade surge sempre que se sente que uma tensão ou energia se diferencia em uma determinada região: um desejo, um motivo, etc.” Tendem a emergir e quando satisfeitas, o campo recupera seu equilíbrio. As necessidades estão, via-de-regra, associadas às demandas do meio: social, econômico, afetivo etc., em que a pessoa vive. De acordo com Perls (1988), citado por Alvim (2000, p. 47), para satisfazer suas necessidades, o organismo tem que achar os suplementos necessários neste mesmo meio. O objeto externo que cumprirá este papel é a figura em primeiro plano. Uma vez encontrado o objeto, o organismo precisa manipulá-lo adequadamente para satisfazer à necessidade inicial e, assim, restaurar seu equilíbrio. As necessidades, segundo Goldstein (1939, apud RIBEIRO, p. 111), “são manifestações do propósito soberano da vida de auto-realizar-se”.
No que diz respeito a contato, para o criador (ou melhor, redescobridor, conforme queria ser chamado) da Gestalt-Terapia, estudar o homem pressupõe considerá-lo na fronteira de contato com o meio – não ora um, ora outro, alternadamente, mas a forma nova que adquirem ao se tornarem recíprocos, mutuamente implicados. Perls (op. cit.) enfatiza que, por si só, o contato não é bom nem mau, ainda que, do ponto de vista atual, se supervalorize o ajustamento social. De qualquer forma, estabelece o fato de que o neurótico não consegue fazer bom contato nem organizar sua fuga.
Em relação aos mecanismos de bloqueio do contato, conforme Clarkson (apud ALVIM 2000, p. 56), configuram-se como mecanismos psicológicos através dos quais mantemos, no presente, situações inacabadas do passado. Resulta deste processo o não preenchimento das próprias necessidades e a interferência no funcionamento saudável na fronteira organismo/ambiente. Dentre os nove listados na literatura, mencionamos os de fixação e retroflexão, os quais, segundo nosso ponto de vista, estão presentes no caso em pauta.
No processo de fixação, conforme Ribeiro, 1997 (apud ALVIM, 2000) o indivíduo sente-se impossibilitado de lidar com o inesperado e o imprevisível, em situações que envolvam risco para ele. Nesta impossibilidade, apega-se compulsivamente a pessoas, situações e emoções já conhecidas (figuras antigas) a fim de sentir-se seguro: qualquer contato com figuras novas, fora da fronteira de contato com o meio, é evitado.
Sobre a retroflexão, pontuamos o seguinte: em Alvim (2000, p. 62) é expressa por comportamentos de auto-suficiência e autocontrole (RIBEIRO, 1997) e sentimentos recorrentes de culpa e arrependimento, controle ativo e ocupação obsessiva (PERLS, 1988). Alvim cita passagem de Ribeiro, na qual se tem um quadro bastante elucidativo acerca do modo de funcionar do retrofletor:
[...] desejo ser como os outros desejam que eu seja ou desejo ser como eles próprios são, dirigindo para mim mesmo a energia que deveria dirigir a outrem. Arrependo-me com facilidade, por me considerar inadequado nas coisas que faço- por isso as faço e refaço várias vezes, para não me sentir culpado depois. Gosto de estar sempre ocupado e acredito que posso fazer melhor as coisas sozinho do que com a ajuda dos outros. Deixo de fazer as coisas com medo de ferir e ser ferido. Sinto que, muitas vezes, sou inimigo de mim mesmo (2000, p.62 e 63, apud Ribeiro, 1997).
Alvim (op.
cit.) aponta um aspecto saudável na retroflexão, qual seja o de
permitir, pela reflexão, a reformulação de idéias,
valores e crenças, com a conseguinte formação de um comportamento
estratégico, tolerância à frustração e alcance
de metas em longo prazo.
Crocker aborda a auto-regulação nos seguintes
termos:
O verdadeiro centro teórico da Gestalt-Terapia é a teoria da auto-regulação organísmica, realizada pelo funcionamento do self no campo organismo/ambiente. A elaboração teórica dos distúrbios de fronteira deriva dessa compreensão teórica mais ampla do funcionamento humano sadio (1988, apud ALVIM, 2000, p.67).
Goldstein (1939, apud RIBEIRO, p. 111) afirma que “a auto-realização é o único motivo do organismo”. Sobre tal processo, Ribeiro diz que o homem tem dentro dele as potencialidades para regular seu próprio crescimento, embora possa e receba influências positivas de crescimento do meio exterior, as quais ele seleciona e utiliza. O impulso dominante de auto-regulação e auto-realização é o que motiva permanentemente o homem, o que dá duração e unidade à sua vida, enquanto pessoa.
É exatamente assim que concebemos o cliente e como o vimos ao longo de todo o processo psicoterápico: como um todo, potencializado. Curiosamente, parece ter sido assim que ele próprio se definiu desde o começo, nomeando suas potencialidades “ferramentas”, o que mostra já sua implicação e aceitação da responsabilidade no processo, um indicativo sugestivo e saudável de maturidade.
Conforme Clarkson (1989, apud ALVIM, 2000, p. 52), o conceito de awareness é a “tomada de consciência das necessidades sociais ou biológicas emergentes”. Por sua vez, “quando determinada situação é vivida inteiramente, de modo que o contato tenha sido pleno e satisfatório para satisfazer às necessidades do indivíduo, ocorre a awareness”, do ponto de vista de Alvim (2000, p. 52).
Zinker (2001) traduz a centralidade do processo de awareness, ao dizer que a história da psicoterapia está enraizada nela, com um foco na noção de crescimento e mudança. A awareness seria o processo pelo qual há oportunidades de escolha. Por seu intermédio, o que era inconsciente vem à luz, tornando a mudança possível. Não estar plenificado pela awareness representaria um modo de agir cego, no entendimento do autor.
3. Da contribuição da psicologia organizacional e do trabalho e da saúde do trabalhador
As outras fontes teóricas das quais nos valemos são as relativas à Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Saúde do Trabalhador. Tais estudos circunscrevem o cerne de nosso estudo no campo das relações sociais e de trabalho, expandindo a visão do problema para além das questões individuais; o que, certamente, não seria útil nem, de certo modo, ético: restringir a questão ao âmbito psicológico seria, assim, uma perspectiva parcial e culpabilizadora.
Os modelos explicativos de Arthur Kleinman (1988, p. 121), amplamente utilizados em Saúde do Trabalhador, nos auxiliam sobremodo na concepção de nosso estudo. Representam o conjunto de idéias de todos os envolvidos no processo clínico sobre um episódio de doença e seu tratamento, sendo sustentados pelos pacientes e pelos médicos. Propõem a elaboração dos significados pessoal e social da experiência da doença - muito similar à postura fenomenológica frente ao objeto de estudo e à concepção holística subjacente à proposta da Gestalt-terapia. O quadro abaixo, elaborado por Lira (2008) a partir da obra de Kleinman demonstra a contraposição dos modelos vigentes. A perspectiva da segunda coluna representa a atuação deste cientista, similar àquela em que procuramos entender a vivência da síndrome do pânico, em nosso estudo.
Modelos de abordagem às doenças e seus paradigmas
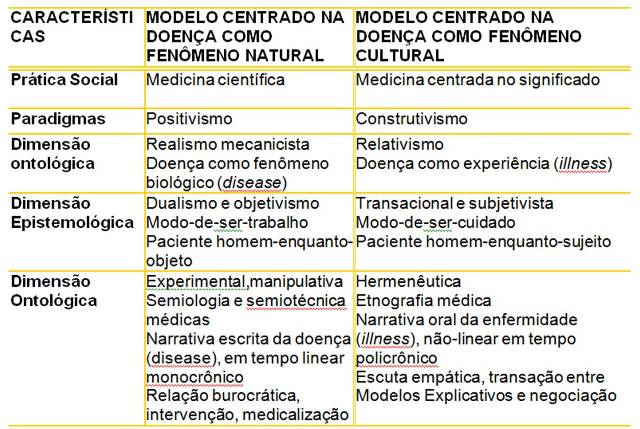
Nossa concepção holística do processo de adoecimento e cura também adquire melhor visibilidade nos gráficos elaborados por Lira (idem) dispostos a seguir, sobre a construção cultural da realidade clínica, do ponto de vista de Kleinman (op. cit.). Aí, observamos o entrelace dos diferentes contextos no surgimento da doença; entre eles, os da estrutura social e contexto cultural, dentro dos quais enfatizamos a organização do trabalho. Percebemos, igualmente, conforme propõe o autor, que a realidade simbólica que confere peso ao rótulo de “doença” e a concebe como fenômeno biológico, determina o tipo de opção terapêutica disponível em uma determinada cultura. Na nossa, observa-se - quase que invariavelmente, a concepção biologizante, acompanhada das terapias medicamentosas correspondentes, em uma simplificação da complexidade subjacente ao processo.
A construção cultural da realidade clínica
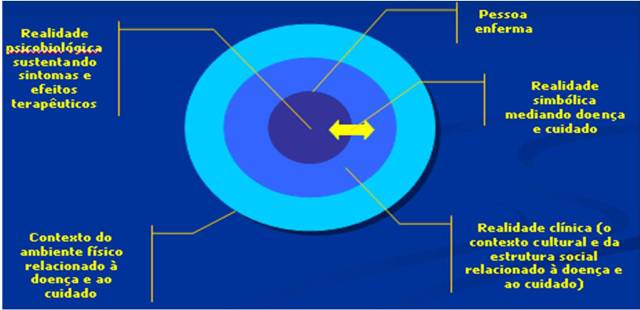

Kleinman (op.
cit.) reconhece um lugar de destaque na forma como a cultura preenche o espaço
entre a incorporação imediata do adoecer, enquanto processo psicológico
e enquanto fenômeno humano. Dentro do modelo biomédico, a doença
é tida apenas como uma alteração nas estruturas e ou no
funcionamento biológico. A medicina trata como problemas médicos,
sintomas de sofrimento e doença resultantes dos embates de forças
sociais. Os órgãos governamentais são levados a ofuscar
esta visão de adoecimento como significado de que algo está errado
com a ordem social, passando a realocá-lo dentro dos estreitos posicionamentos
técnicos. No modelo biopsicossocial proposto por ele, no entanto, a doença
é uma dialética construída como rede simbólica e
que liga corpo, self e sociedade.
Conforme Oliveira e Vasconcellos (2000), a lógica do campo programático
da Saúde do Trabalhador, encerra um forte conteúdo político-ideológico,
no qual o trabalhador é posto como protagonista na condução
de seus processos. A problemática do trabalhador (incluindo aí
seus processos de adoecimento) emerge de um contexto que ultrapassa questões
individuais, ditas de “personalidade”, e defronta-se, também,
com questões relativas à organização do trabalho.
Estabelecemos, igualmente, uma relação estreita entre a Fenomenologia e os Estudos Organizacionais e em Saúde do Trabalhador, guiados pelo fato de que as ações interventivas em saúde, neste campo, deveriam se dar a partir da escuta do trabalhador, antes de qualquer outra medida. O tipo de escuta, inclusive, pode ser decisivo na condução da pesquisa e de seus resultados, uma vez que representa já uma posição filosófica e política daquele que ouve/pesquisa. Relembramos, a esta altura, o que foi dito anteriormente, sobre a articulação teórica da Fenomenologia “parecer” eclética, ao valer-se de material teórico de outras disciplinas.
Exemplarmente, Schwartz (2007), analista pluridisciplinar de situações de trabalho, referenda a influência da Fenomenologia na transformação do olhar que compartimentou a Psicologia em capítulos – “a ação”, “o conhecimento”, “as emoções”, para pensar em nossa relação com o mundo como um todo. Voltaremos ao pensamento deste autor em ocasião oportuna.
Esclarecida, desta forma, a interseção entre os dois campos, propomos uma pequena retrospectiva, em que tentamos localizar o momento em que o trabalho, principal atividade humana, deixou de ser motivo de satisfação e crescimento pessoais, para se tornar mero recurso de subsistência e provavelmente; por isso, também, um forte fator adoecedor. Alvim (2006), reconstituindo historicamente a evolução do mundo do trabalho e das organizações; situa, no século XVIII (durante a Revolução Industrial, quando temos o início do processo de industrialização e do modelo de trabalho mecanizado), o surgimento da alienação no trabalho. A autora chama a obra de Karl Marx à lembrança, para corroborar tal alienação, uma vez que nela se tratou em profundidade da separação entre concepção e execução. Redundou disso, entre outros, a perda de investimento afetivo no trabalho, haja vista que o trabalhador perdeu o acesso ao sentido de sua tarefa e do lugar dela no processo produtivo como um todo.
De lá para cá, muita coisa mudou em termos de gestão e processos produtivos - como não podia deixar de ser - em meio a tantas transformações radicais no cenário social e econômico mundial. Face aos modernos modelos e sistemas liberais e “democráticos”, não cabe falar de controle do trabalhador (ainda que se o faça por outras vias e com outros nomes). Sendo assim, o capital humano é gerido, na atualidade, de forma pretensamente co-participativa, em que se conclama o trabalhador a efetuar, novamente, um vínculo com o trabalho, comprometendo-se ao máximo com ele, em termos de engajamento pessoal e produtividade. De forma subliminar, este conclame à vinculação psicológica do trabalhador com a organização e a tarefa opera, conforme Alvim, como
[...] um processo “homogeneizador” de condutas, que aciona os sistemas cognitivo, afetivo e motor, para promover uma aprendizagem coletiva acerca de como pensar a organização, sentir a organização e viver a organização. Se o indivíduo não exercita sua capacidade de individualização, o direito à diferença, sua consciência crítica, sua volta a si mesmo, deixa-se dominar e controlar pela disciplina (2006, p.04).
Codo (1986, p. 146-147) expõe o produto final desta alienação: “O trabalhador produz mercadorias que não consome, consome mercadorias que não produziu, sua ação e sua sobrevivência lhe escapam”. E ainda: “O capital, que já alienara o homem do produto de seu trabalho, agora lhe rouba o gesto, o movimento do seu braço é algo que não lhe pertence”.
Não há desta forma, como deixar de questionar as pretensas melhoras no mundo laborativo. Sennett (2001) afirma que são meramente ilusórias. Argumenta o sociólogo que o ambiente de trabalho moderno, com sua ênfase na execução de projetos em curto prazo e de forma “flexível” emperra a construção e o desenvolvimento coerente de uma narrativa de vida. Ele é mais ousado, ainda, ao garantir que tais modernidades chegam a impedir a formação do caráter. Tais mudanças corporativas impostas pelo novo capitalismo responderiam diretamente pela corrosão de virtudes tais como lealdade, confiança, comprometimento e ajuda mútua, fundamentais para a formação do caráter.
De posse desta constatação, abordaremos alguns elementos da perspectiva organizacional que se relacionam com os conflitos subjacentes do cliente, relacionando-os adiante, na apresentação e discussão do caso, conforme o sentido vivencial que lhes foi atribuído e que colaboraram para o surgimento do quadro de pânico. O principal deles, na verdade, o corolário dos demais, já o mencionamos: a alienação do processo do trabalho como um todo. Temos, a seguir, a questão da estruturação de um projeto de trabalho e carreira ao longo da vida. Venosa, em Forghieri (1984, p. 89) referenda a relevância da Sociologia, tendo em vista que, por intermédio dela nos tornamos convictos de que “a ordem é um dos imperativos primários que as sociedades constroem”. Desta forma, antropologicamente, até, estaria posto que “os homens experimentam uma enorme dificuldade em viver num espaço e num tempo desordenados”.
Sobre o marco do “tempo” na vida humana, Sennett afirma que, na verdade, é esta dimensão, no novo capitalismo, antes de questões como a transmissão de dados high-tech, os mercados de ação globais ou o livre comércio, o que mais diretamente afetaria a vida emocional das pessoas fora do local de trabalho. Segundo o autor, as condições de tempo no novo capitalismo criaram um conflito entre caráter e experiência. A experiência, face à desestruturação do tempo, ameaça a capacidade das pessoas construírem narrativas sustentáveis de vida. Assim, o fato de não haver mais “longo prazo” desorienta a ação, afrouxa os laços de confiança e compromisso e divorcia a vontade do comportamento. Codo (1986) relembra o tempo de Taylor, em que a produção humana, deve se submeter ao capital. Neste tempo, o homem vende sua capacidade de transformação e autotransformação pelo salário, se alienando de si mesmo.
Sobre a construção de uma carreira no tempo, Bell & Staw (apud DUTRA, 1997, p. 159) fazem a inquietante pergunta: “Quanto somos escultores de nossa carreira ou esculturas, esculpidas pela empresa e pelo ambiente?” Dutra (op.cit) ainda registra, após pesquisa realizada em São Paulo, com pessoas de formação superior, que noventa e oito por cento delas “haviam entregado seus destinos profissionais para a empresa ou o acaso”. Tal constatação vem de encontro, segundo ele, àquilo que se preconiza como ideal: que sejamos senhores de nossos destinos e gestores de nossos projetos profissionais e de vida. Igualmente constata que as empresas brasileiras, apesar de algumas esparsas exceções, adotam posturas ora autoritárias, ora de total alheamento em relação ao desenvolvimento dos trabalhadores. Conclui que, em sua maioria, estão despreparadas para estimular e orientar o planejamento e desenvolvimento de carreiras. Parece, então, segundo ele, haver, de fato, um conflito entre os benefícios de se ter um trabalhador seguro de suas escolhas e, conseqüentemente, mais ativo; e os de se mantê-lo alienado, disciplinado e obediente; portanto, menos interventor e crítico. Sennett (2001) rememora este mesmo antagonismo ao citar Taylor, que afirmava que quanto menos fossem “distraídos” pela compreensão do projeto do todo, mais eficientemente se ateriam a seus próprios serviços.
Dutra (op.
cit.) faz uma contundente colocação sobre a percepção
quase generalizada de que o planejamento da carreira e o empowerment são
responsabilidade do indivíduo. Conforme atesta, os estudos recentes têm
demonstrado a influência das empresas nestes quesitos, utilizando-se das
expectativas pessoais conforme melhor lhes convêm. Como se não
bastasse, cita Gutteride (1993, p. 163), que afirma que “a quase totalidade
das empresas discrimina o acesso das pessoas a programas ou processos de reflexão
sobre suas carreiras ou seu desenvolvimento profissional”. Estas constatações
nos servem, sobremodo, para repensar a visão culpabilizadora que recai
normalmente sobre quem não conseguiu estruturar uma carreira ou possui
conflitos advindos das limitações na hora de decidir pelo melhor
caminho profissional.
A questão do medo da perda do emprego é também
dramática: Sennett (2001, p. 114) recupera um texto do The New York Times
que explicita o alcance da questão: “a apreensão com o emprego
se impôs em toda parte, diluindo a auto-estima, rachando, fragmentando
comunidades, alterando a química dos locais de trabalho”. A apreensão,
neste sentido, é uma ansiedade sobre o que pode acontecer, criada num
clima que enfatiza o risco constante e aumenta à medida que as experiências
passadas parecem não servir de guia para o presente, colocando em risco
o senso de valor pessoal. Tal constatação coaduna-se com o que
menciona Pinheiro (2004) ao falar sobre a síndrome do pânico no
momento social atual,
Outro tópico que merece discussão, em função da história de nosso cliente, diz respeito à concepção do trabalho de equipe. Sennett (op.cit) critica a moderna ética que se concentra nesta modalidade de trabalho. Aparentemente, ela celebraria a sensibilidade aos outros, ser bom ouvinte, cooperativo e adaptável às circunstâncias. No entanto, segundo ele, apesar de toda a euforia psicológica da administração moderna sobre isto, a ética do trabalho permanece na superfície da experiência. Tal modalidade nada mais é, segundo sua crítica, do que uma prática de grupo de superficialidade degradante. A justificativa para este ponto de vista é o fato de as pessoas se manterem juntas para evitar questões difíceis, enquanto reforçam laços de conformismo de grupo. Chamou-as de “ficções de trabalho em equipe e fingimentos de comunidade” (p. 138-139), cujo foco reside no imediatismo, na fuga à resistência e ao confronto, úteis no exercício da dominação: “Compromissos, lealdades e confiança partilhados mais profundamente exigiriam mais tempo - e por isso mesmo, não seriam tão manipuláveis.”
Do ponto de vista psicológico, as atitudes dos grupos neste formato atual (distanciamento e cooperatividade superficiais) funcionam como uma blindagem para lidar com as atuais realidades, em detrimento de atitudes baseadas em valores de lealdade e serviço. Em seu tom próprio, Sennett (op.cit., p.37) atribui ao “capitalismo de curto prazo a corrosão das qualidades de caráter que ligam os seres humanos uns aos outros e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável”.
No mesmo raciocínio, Sennett (2001, p.134) cita outros: o sociólogo, Gideon Kunda, que atribui ao trabalho moderno de equipe a designação de “teatro profundo”, porque “obriga os indivíduos a manipular suas aparências e comportamentos com os outros”, escondendo-se por trás de “máscaras de cooperação”. Para o antropólogo Charles Darrah (p. 134), “as pessoas que não desenvolvem logo as máscaras da cooperatividade vão acabar bombeando gasolina”. De acordo com Sennett, os comportamentos que negam a luta pelo poder ou o conflito, dentro da equipe, fortalecem a posição dos que detém o poder. Conforme Laurie Graham (p. 135), em seus estudos, encontrou “pessoas oprimidas pela própria superficialidade das ficções do trabalho em equipe”. “A cooperatividade serviria, na verdade, à implacável campanha da empresa por uma produtividade cada vez maior, com os trabalhadores responsabilizando-se uns aos outros”, enquanto trabalham acima de suas forças.
Como se não bastasse, ocorre uma mudança radical em relação ao poder: a figura de autoridade desaparece. Embora o poder ocorra nas cenas superficiais de trabalho de equipe, a autoridade, representada por alguém que assume responsabilidade pelo poder que usa já não se encontra. Tais mudanças, irreversíveis, assim como a atividade fragmentada, afirma Sennett, podem ser confortáveis apenas para os senhores do novo regime. Instalaram-se como senhores os “facilitadores” e “administradores de processo”, que fogem ao verdadeiro compromisso e responsabilidade com seus servos, que permanecem desorientados.
Ao discorrer sobre a tão aclamada motivação, Sennett não se torna menos severo. Usa as idéias de Max Weber, para questionar a percepção que se tem de que ela representa a chave do sucesso no mundo laboral hoje em dia: “A ética do trabalho do homem motivado não parece motivo de felicidade humana, nem, na verdade, de força psicológica: O homem motivado é demasiadamente oprimido pela importância que tem de atribuir ao trabalho”. (p. 126). De Foucault, traz a contestação da ética da disciplina, que representaria, na verdade, um ato de autopunição. Finaliza tais questões com a apologia do enfraquecimento desta ética do trabalho que aprisiona o trabalhador. Schwartz (2007) chega a considerar ridículo o conceito difundido de motivação como uma espécie de característica psicológica interna, sem levar-se em conta o meio no qual a pessoa age.
Em relação à moderna flexibilidade nas relações e na organização do trabalho, Sennett acredita ser natural que ela cause ansiedade, uma vez que as pessoas não sabem que riscos serão compensados, que caminhos seguir. A flexibilidade, na verdade, seria a camuflagem de um outro tipo de maldição da opressão do capitalismo. Apregoa-se que a flexibilidade dá às pessoas mais liberdade para moldar suas vidas quando, na verdade, a nova ordem impõe novos controles. Dentre eles, o mais danoso: seu impacto sobre o caráter pessoal. A tese é a de que estar continuamente exposto ao risco pode corroer o senso de caráter. Afinal, pergunta ele, que comportamentos, valores e atitudes deve o trabalhador manter frente à velocidade e descontinuidade de tantas novas demandas, organizações e métodos?
Em meio a tal descontinuidade, a “superficialidade degradante” de Sennett mostra sua pior face no que diz respeito à desvalorização da experiência do trabalhador. Para os trabalhadores mais velhos, os preconceitos contra a idade se evidenciam em um antagonismo: à medida que se acumula, a experiência da pessoa vai perdendo valor. O que um trabalhador mais velho aprendeu no correr dos anos sobre uma determinada empresa ou profissão pode atrapalhar novas mudanças ditadas pelos superiores. Do ponto de vista da instituição, a flexibilidade dos jovens os torna mais maleáveis tanto em termos de assumir riscos quanto de submissão imediata.
O motivo básico para a desvalorização da experiência residiria, para Sennett, na desorganização do tempo: “a seta do tempo se partiu; não tem trajetória numa economia política continuamente replanejada, que detesta a rotina, e de curto prazo. As pessoas sentem falta de relações humanas constantes e objetivos duráveis” (p. 117). Se no passado, face à existência de instituições suficientemente estáveis, o trabalho era vivenciado como experiência de profundidade, e a ética preconizava dar duro e esperar a colheita dos frutos, atualmente em um regime cujas instituições mudam rapidamente, não faria mais sentido esperar.
4. O fundamento do método: a fenomenologia
A orientação teórica de nosso estudo advém, antes de qualquer outra, da Fenomenologia, que é uma filosofia e também uma metodologia de compreensão da realidade. Difere, conforme Giovanetti (2005, p.158), “do método das ciências naturais, que visam a entender o seu objeto por meio de explicações formais”. É, na realidade, conforme o autor, “um método compreensivo, uma vez que busca explicitar a intenção específica que cada ser humano tem ao entender algo.” Por intermédio dela, se procede ao encontro com a realidade tal qual se apresenta, antes de todo e qualquer conhecimento prévio.
De acordo com Forghieri (1984, p. 21), a Psicologia encontra na Fenomenologia os fundamentos para a investigação que consiste em “penetrar na própria vivência da pessoa que pretende conhecer, procurando captar o seu modo de existir, o seu ser-no-mundo, como transcendência”. Dartigues (1992 apud Giovanetti 2005, p. 51) esclarece que “compreender um comportamento é percebê-lo, por assim dizer, do interior, do ponto-de-vista da intenção que o anuncia, logo, naquilo que o torna propriamente humano e o distingue de um movimento físico”.
Para além do fato de estar na origem da inspiração e da formação do pensamento gestáltico, obtemos da Fenomenologia a perfeita correlação que pretendíamos entre o estudo específico de nosso “objeto”, o modo de lidar com ele e a forma de demonstração dos resultados de tal estudo. Conforme Ribeiro (1985), a Fenomenologia busca captar a essência mesma das coisas e, para isto, procura descrever a experiência do modo como ela acontece e se processa.
Gomes (1998)
nos dá informações de relevo acerca da natureza deste tipo
de pesquisa. Parece ser consenso, entre os fenomenólogos, o procedimento
de não se recorrer a um corpo teórico específico para interpretar
seu material de pesquisa. Superficialmente, isto pode fazer com que a articulação
teórica das pesquisas que utilizam o método fenomenológico
pareça eclética; quando, na verdade, a proposta deste método
é desvelar sentidos, no movimento contínuo entre a descrição
e a redução. Não obstante, vem se articulando, cada vez
mais, no seio da Fenomenologia, um conjunto de fundamentos que lhe são
próprios. Assim, é bom que se diferencie entre exatidão
e rigor metodológico. Este é característica essencial na
pesquisa fenomenológica, destacando-se sua identificação
e diferenciação no que tange à sua visão estrutural,
que é a especificação de essências ou fundamentos
primordiais.
Conforme Amatuzzi (1996a, p. 1), “a pesquisa fenomenológica é
definida como um estudo do vivido e seus significados, trabalhando com material
expressivo da experiência humana”. Esclarece, ainda, que, ao se
trabalhar com esse tipo de material, três níveis de análise
são possíveis: de conteúdo, fenomenológica e de
tipo psicanalítico. Dentre elas, a que nos interessa e mais se aproximou
dos objetivos do nosso estudo é a análise fenomenológica,
por “privilegiar o vivido e os significados para os quais os signos apontam;
como símbolos com os quais podemos entrar em contato pela mediação
do expresso.”
Havendo diversas modalidades de pesquisa fenomenológica, conforme enumera Amatuzzi, podemos dizer que a que se faz no momento segue a orientação fenomenológico-hermenêutico de tendência dialética. Citando Forghieri (1993), Amatuzzi (1996a, p. 7) esclarece que este tipo de pesquisa se desenvolve através de dois momentos inter-relacionados, quais sejam:
1) Envolvimento existencial, no qual o pesquisador não considera seus conhecimentos ou teorias prévias sobre o objeto da investigação, mas abre-se ao fenômeno de modo espontâneo e experiencial. Saindo de uma atitude intelectualizada, busca uma compreensão global, intuitiva, pré-reflexiva da vivência. O que se busca não é um entendimento conceitualizado, mas um contato;
2) Distanciamento
reflexivo, em que, após o envolvimento existencial, o pesquisador
se afasta para explicitar o sentido ou significado da vivência que é
o objeto da investigação.
São etapas características:
- Definição
do campo – que pode não ser clara desde o começo e representa
mais uma definição de interesses;
- O projeto é mais uma declaração de intenções
e tem a função de impulsionar o movimento da pesquisa, mais do
que dirigir seus detalhes (o desenvolvimento da pesquisa é o desenvolvimento
do projeto e não sua execução);
- A coleta de depoimentos é interativa, dialógica e, eventualmente,
questionadora e conscientizadora para todos os envolvidos (pesquisador e sujeitos);
- Na análise, há uma maior participação da subjetividade
do pesquisador e, também, abertura maior para a consideração
de níveis mais abrangentes ou coletivos de significado. É confirmada
pelos sujeitos - quando não, feita com eles;
- A discussão pode estar entremeada na própria análise,
estando outros autores ou pesquisadores chamados a participar dela;
- A redação final não é um simples relato do que
foi feito – pode acrescentar significados, na medida em que dialoga com
eventuais leitores, prolongando a pesquisa.
Em grande medida, a elaboração de cada uma das etapas procurou ser fiel ao cumprimento de tais indicativos, tanto no trabalho de campo - a psicoterapia propriamente dita, quanto na elaboração do trabalho escrito, em seus aspectos teóricos e técnicos.
O movimento que tivemos ao longo do processo é descrito por Amatuzzi (2001), como o de uma psicologia humana - aquela que se dá por uma abordagem fenomenológica em dois movimentos entrelaçados e interdependentes: o olhar puro para a consciência e os significados do sujeito entrevistado, versus a condução do olhar do pesquisador, de certo modo, determinado pelas indagações que o habitam. Tal postura possibilitou a reflexão sobre minha própria ação e reação ao comportamento e à fala do cliente, minhas intervenções e reações dele a elas. Assim, selecionando os elementos formais próprios do processo terapêutico, ficamos com o material específico de trabalho de pesquisa.
4.1. Método
A presente
monografia se baseia em um estudo de caso. Para tal, utilizou-se dos relatos
verbais de um cliente com Síndrome do Pânico, fornecidos ao terapeuta,
durante o processo de psicoterapia efetuado entre março e dezembro de
2007, no IGT (Instituto de Gestalt-terapia). O referido atendimento fez parte
da carga horária prática, necessária para obtenção
do grau de especialista em clínica, no referido curso. Paralelamente,
trabalhamos com pesquisa bibliográfica, a partir da literatura com pressupostos
teóricos da Fenomenologia, da Gestalt, da Psicologia Organizacional e
do Trabalho e da Saúde do Trabalhador.
A importância concedida ao relato do cliente ilustra nossa preocupação em dar vida à teoria, deixando falar o ser humano que adoece - nosso “objeto” e principal razão de nosso estudo. Como apregoa a Fenomenologia, não poderíamos deixar de ouvir o fenômeno para tão somente falar sobre ele, a partir de nossas pressuposições. A idéia, aqui, foi caminhar entre o estudo do objeto a partir da teoria já disponibilizada sobre ele e dar-lhe voz, concomitantemente.
As opiniões
e reformulações do cliente durante a elaboração
do projeto foram tão fundamentais quanto a pesquisa teórica. Tentamos
dissecar, tanto quanto possível, a experiência da pessoa-caso,
com o objetivo de aprofundar a questão em pauta e aproximar os vértices
do estudo, quais sejam a perda de autonomia do sujeito trabalhador (gerada,
conforme já dissemos, entre outros, pela pressão da organização
do trabalho) e o desencadeamento da síndrome do pânico. De acordo
com Ribeiro (1985), a teoria organísmica - sobre a qual falaremos adiante,
acredita que se pode apreender mais em um estudo compreensivo da pessoa do que
em uma investigação exclusiva de uma função psicológica
e abstrata de muitos indivíduos.
O estudo de caso, conforme Gil (1988), é um método bastante flexível.
Ele dispensa, por sua própria ênfase, um roteiro rígido
para o desenvolvimento da pesquisa. De qualquer forma, o pesquisador enumera
quatro fases que, na maioria
das vezes, é possível seguir para se obter um maior aproveitamento
do método e resultados mais consistentes. São eles:
a) delimitação
do caso;
b) coleta de dados;
c) análise e interpretação dos dados;
d) redação do relatório.
Em nosso caso, a delimitação do caso foi prevista, programada
e imprescindível, já que, de antemão, existia o desejo
de explorar a questão do pânico para além de aspectos teóricos
sem, obviamente, prescindir da teoria - com um foco fenomenológico “vivo”,
se podemos dizer isto sem sermos redundantes. A escolha de se trabalhar com
a problemática de um cliente vem corroborar nossa convicção
de que não é possível fazer ciência sem falar do
homem que a produziu e é por ela produzido cotidianamente; o que, em
outras palavras, já justificamos em parágrafo anterior.
Curiosamente,
a escuta do cliente nos fez mudar o rumo de nossa investigação.
Ao invés de “adaptar” o que ele nos trouxe, para corresponder
ao que desejaríamos estudar (o que, de nossa parte talvez passasse a
representar um conflito particular), ainda que o estudo tivesse também
os seus méritos (pensávamos em focar unicamente os processos perceptivos
da pessoa que vivencia a Síndrome do Pânico), procuramos dar voz
à sua demanda, ao invés da nossa. Obviamente, a problemática
do cliente envolvia processos perceptivos, como não poderia deixar de
o ser, conforme Rudio (1998), citado por Giovanetti (2005, p. 166): “O
indivíduo se comporta como resposta ao significado que ele dá
ao que existe”. Sua percepção, entrementes, estava sedimentada
em um contexto psicossocial em que o trabalho, enquanto cerceador da autonomia,
impunha-se como um grande vilão. Coincidentemente, terminamos por nos
pautar, desta forma, pela direção oferecida por Amatuzzi (2001,
p. 53), ao afirmar que “o vivido é, por vezes, o melhor guia para
nossas ações concretas e para nossos pensamentos, do que concepções
ou idéias construídas mais ou menos artificialmente”.
A coleta de dados utilizou-se, basicamente, em um dos procedimentos
citados por Gil (1988), e apontados por ele entre os mais usuais - a entrevista.
Por intermédio dela, a compilação foi sendo feita tanto
no próprio atendimento clínico - tendo sido dada ciência
ao cliente da minha necessidade particular de fazer algumas anotações
para futura rememoração - quanto a posteriori, com uma reflexão
bem mais atenta e detalhada de cada movimento nosso: das falas do cliente e
intervenções realizadas, em uma espécie de diário
clínico. Todas as sessões foram devidamente submetidas à
supervisão do professor do curso de pós-graduação
acima mencionado, e do qual esta monografia é exigência curricular.
As anotações foram feitas de forma livre e informal, relembrando um procedimento extremamente útil e fenomenologicamente bastante adequado às nossas intenções, qual seja o da versão de sentido, criada por Mauro Amatuzzi. Tal técnica fundamenta-se, teoricamente, na fenomenologia de Martin Buber e Maurice Merleau-Ponty. A versão de sentido trata-se de um relato livre, feito tão imediatamente após o encontro quanto possível, antes de se envolver em outra atividade qualquer, na tentativa de capturar o que um registro mecânico posterior não captaria. Atesta Amatuzzi (1996b) que a versão de sentido pode ser um instrumento, para além de útil, bastante fecundo em pesquisa e formação. Não pretende ser um registro objetivo do acontecido, mas da reação viva a ele.
Conforme seu criador, “uma versão de sentido bem feita é uma espécie de radiografia fenomenológica de um encontro” (1996, p. 14). E era justamente o que precisávamos – preservar tais radiografias, para que o estudo e a compilação deste material, a posteriori, não perdessem as características e a direção fenomenológica que se pretendia dar a eles. Um dos benefícios deste tipo de relato, conforme explicita o autor, é que cada um deles encerra o sentido e o significado básico de cada encontro; o que, processualmente, possibilita uma articulação em cadeia, que culmina em um sentido norteador único, ainda que este seja, intrinsecamente, multideterminado e multifacetado, como são todos os “sentidos” que condicionam os pensamentos e ações humanas.
Importa ressaltar que tal utilização foi feita com total anuência do cliente e que, apesar de lhe ter sido informado de que não seria mencionado nenhum dado que possibilitasse sua identificação, disse não se preocupar quanto a isso, sugerindo, inclusive, fornecer seu depoimento na defesa da monografia, além de mostrar-se totalmente acessível a colaborar no que fosse necessário.
Gil (1988) chama a atenção do pesquisador, na hora de analisar e interpretar os dados, para a falsa sensação de certeza, julgamentos implícitos, intuições, opiniões de senso comum etc., passíveis de ocorrer quando se utiliza a metodologia do estudo de caso. Um dos motivos para tal, enfatiza, é a própria questão da amostra, que impossibilita qualquer generalização de dados. Atentos a tal alerta partimos, já, da certeza de que nosso objetivo não seria fazer afirmações deterministas e ou generalistas, mas colaborar para a ampliação do interesse de leitores e pesquisadores de temas afins, incluindo, entre tantos outros estudos já efetuados, nossa modesta contribuição.
Como já
reiteradamente dissemos, por se tratar de uma investigação de
cunho fenomenológico, a primeira fase da análise e a interpretação
dos dados foi feita em parceria com a pessoa-caso, durante todo o processo terapêutico,
concomitantemente à supervisão de psicólogo mais experiente,
após reflexão particular sobre o processo. Uma segunda fase, se
assim podemos classificá-la, foi se fazendo desde então, durante
a tentativa de associar as questões em pauta – em especial, a síndrome
do pânico e a saúde do trabalhador, à literatura sobre o
assunto. Neste particular, a leitura do material bibliográfico possibilitou-nos
analisar e interpretar os dados à luz da pesquisa científica já
existente.
Para a redação do relatório, tomamos alguns cuidados
sugeridos por Gil (op. cit.): deixar claramente indicado como foram coletados
os dados, e devidamente fundamentada a teoria à qual se vinculam. Este
segundo é justamente o que se fará nos capítulos seguintes.
A escolha dos dados que compõem o corpo do relatório, segundo
aquele autor, é uma decisão do pesquisador, respeitados os critérios
básicos da concisão, objetividade e fidedignidade dos dados. De
tal forma, nossa opção consistiu em focar os dados clínicos
mais consistentes e significativos da experiência da pessoa-caso, em conjunção
com elementos correlatos da literatura que, com eles, mais se compatibilizaram.
Assim, a Fenomenologia é a instância para julgar as questões metodológicas básicas da Psicologia. O que ela afirma, em geral, o psicólogo precisa reconhecer como condição da possibilidade de toda sua metodologia ulterior (HUSSERL, 1986 apud FORGHIERI, 2004, p. 17).
5. O caso
J. A. e eu chegamos ao consultório em pé de igualdade. Não sabia quase nada a seu respeito, além dos dados básicos de identificação registrados em sua ficha de inscrição no Instituto e de um diagnóstico nada incomum: Síndrome do Pânico (doravante, designada como SP). Na realidade, quando o encontrei, os sintomas estavam praticamente em remissão, mas J. A. temia abrir-lhes a guarda a qualquer momento. Eram, em sua fala, sensações horríveis, das quais queria resguardar-se e ter convicção de que não aflorariam novamente. Vez por outra, algumas delas ameaçavam-lhe uma visita - o que, por si só, o deixava extremamente ansioso e incomodado. A própria vinda ao consultório, de ônibus, neste dia, o deixou nervoso, agitado e angustiado, conforme relatou.
Sua primeira crise aconteceu em dezembro de 2002, seguida de outra, no mesmo mês. Uma terceira veio um mês depois, em janeiro de 2003. A primeira crise ocorreu dentro de um ônibus. Sentindo taquicardia e outras sensações inusitadas até então, desceu do veículo e procurou imediata ajuda médica. Como na maioria dos casos - quando do surgimento de uma crise com tais sintomas, J. A. deu início a uma romaria por diversas especialidades médicas: neurologista, cardiologista, psiquiatra, em busca de tratamento para um mal até então desconhecido para ele. De brinde, além do diagnóstico, recebeu a prescrição de diversos medicamentos como Olcadil, Pondera e Propanolol (2). J. A. passou a ter de lidar, então, com a conta da farmácia e alguns efeitos colaterais intrusos.
Lembro-me ainda do grau de tensão que tomava conta da fisionomia e do corpo de J. A.: sentou-se logo em minha cadeira e eu o deixei aninhar-se no lugar que lhe pareceu mais acolhedor (o “meu” lugar). Até o momento em que leu este texto (mais de um ano depois), ele não sabia da sensação que tive de que ele poderia ter uma crise ali mesmo, em minha frente, tamanho e visível era seu desconforto e nervosismo. Temia o retorno das crises. Sua casa era o único lugar onde, então, sentia-se protegido, pois “a família é meu porto seguro: se passar mal lá, eles me socorrem”.
Relata que muitas vezes, ao tentar sair de casa, desceu do ônibus e voltou, diante da ameaça do surgimento dos sintomas. Seu médico lhe havia dito que alguns ficam dependentes do remédio a vida toda; o que, para ele, se configurou como um vaticínio inaceitável. Afirmou não gostar da idéia de ingerir a medicação: “mexe com o cérebro”. Veio, então, durante a primeira sessão, a pérola que guardo e que utilizo em sessões com outros clientes, outras demandas, outras vidas; como uma excelente ilustração da capacidade de auto-regulação do organismo a partir do momento em que a pessoa assume, convicta e deliberadamente, a responsabilidade por sua própria vida - J. A. diz, em meio à turbulência que emana de sua fala e de seus gestos: “Eu sei que tenho as ferramentas. Tenho que aprender a usá-las. Se é psicológico, não preciso tomar medicação”.
Obviamente, ciente da necessidade de terapia medicamentosa em várias situações, mencionei algo sobre o foco biologizante, objeto de estudo da classe médica, no geral. Enfatizei o fato de que a síndrome pode sinalizar algo que precisa ser reconsiderado, reconfigurado na vida da pessoa; deixando, no percurso do tratamento, um saldo bastante lucrativo em termos de autoconhecimento e mudanças de padrão perceptivo da realidade; dos próprios limites e dos modos habituais de relação que se estabelece com o entorno social. Frisei o lugar da psicoterapia durante este percurso e que precisaríamos muito de suas “ferramentas”, pois seria com elas que iríamos trabalhar.
Amparada na confiança do que leio em outros autores e profissionais mais experientes, talvez ainda mais do que em minha própria “fé”, disse-lhe, em pé de guerra com o tal médico - que mal conheço - que a SP tem, sim, cura. Minha afirmação claudicante parece ter sido tudo o que J. A. precisava para respaldar sua autoconfiança na cruzada pela derrota da “doença”. Seu semblante vai, daí por diante, adquirindo outras variações de cor além do binômio amarelo - pálido. Mais adiante e mais relaxado, J. A. já compartilha comigo um pouco de seu modo de ser e agir, começando a delinear seu auto-retrato: “tenho dificuldades de lidar com pessoas burras”. Refere-se, nesta fala, à sua chefe anterior e também à atual.
A partir da segunda sessão, eu o encontro sorridente na recepção, com um semblante desanuviado. Menciono a diferença em seu semblante e ele diz estar feliz pela possibilidade de livrar-se da SP. Vai, então, gradualmente relaxando, sorrindo, contando seus sonhos, suas dores, conferindo sentido à sua história. Dentro dela, o adoecimento surge como um jeito idiossincrático de expressar que está cansado e infeliz com o rumo que suas escolhas tiveram. É seu primeiro dia de trabalho depois das férias. Diz que na sessão seguinte minha cabeça iria ficar “deste tamanho”, porque haveria muitas questões do trabalho para me contar. Afirmou que veio feliz e estava indo feliz para o trabalho: “Estou feliz da vida”. Passamos a utilizar um gráfico (anexo B) concebido pelo supervisor - Marcelo Pinheiro, onde, dia a dia, o cliente registrava seu estado emocional correspondente. Quisemos, com isso, observar seu movimento em relação aos acontecimentos diários e de que forma eles também se correlacionavam com eventuais crises.
Passo a ter acesso, então, ao modo de J. A. vivenciar e perceber seu trabalho. Eis o quadro: Trabalha em uma loja de departamentos. Os clientes o procuram e reclamam com o gerente quando ele muda de setor. Chega a ligar para eles, para avisar que chegou mercadoria nova. Alguns vendedores se sentem ameaçados. Por causa de problemas desta ordem, às vezes pensa em mudar-se da área de vendas para a financeira, mas o que gosta mesmo é de estar com as pessoas: “é que nem cachaça!”.
Alguns colegas o respeitam mais que ao chefe. Vive dando idéias novas e diz saber mais do que o gerente. Certa vez, chegou a fazer planejamentos para melhorar o marketing da loja e, conseqüentemente, as vendas: fez levantamento de preços, etc. e encaminhou suas idéias aos diretores da cadeia de lojas, mas não foi respondido. Diz ficar “elétrico” com a possibilidade de produzir, de criar. Não se conforma em ser bom, podendo ser o melhor naquilo que faz e ao mesmo tempo se incomoda com isso, pelo estresse que gera. Não gosta de ser cobrado e, por isso mesmo, cobra-se antecipadamente. Diz que não pode trabalhar tão bem quanto gostaria por questões da própria organização do trabalho e, caso comentasse estes fatos, poderia ser demitido. Enumera dois empregos anteriores: outra loja de departamentos e um banco. Nestes dois lugares, seus empregadores chegavam a negociar dias e horas de trabalho, dependendo de algumas dificuldades de sua vida particular, estado de saúde etc. Em sua percepção, “havia respeito pelo movimento do empregado - os líderes sabiam o que faziam e sabiam liderar”.
Na atual loja, aumentaram o número de vendedores e, conseqüentemente, o salário caiu pela metade. Há nisso, para ele, uma questão incongruente: todos recebem o mesmo salário, sendo que uns se esforçam muito e outros não fazem nada. Chateia-se com o fato de a administração não funcionar da forma que deveria - os gerentes culpabilizam os vendedores pela baixa produtividade, quando na verdade ela acontece por sua própria incompetência. Reconhece em si certa intransigência que o prejudica no relacionamento com os outros. Afirma não querer ser chato ou alguém que reclama o tempo todo, mas acredita que se não fosse ele e “outros intransigentes”, “aquilo lá tava uma bagunça”. Sente-se irritado com a atitude relapsa de alguns colegas. Teme relaxar e ficar como eles.
J. A. sente-se
mal quando trabalha além da conta: chega tarde e dorme mal. Nestas ocasiões,
por vezes, sentiu-se mal no ônibus em dias subseqüentes. Estar tudo
fechado, com muita gente no veículo ou haver odores fortes, como perfumes,
é “como um alarme” (para desencadear a crise, percebo). Reuniões
no trabalho é a gota d’água para ele. Desencadeiam dores
de cabeça que começam atrás, no pescoço. Em relação
a estas situações, menciona que não quer voltar a tomar
remédios. Algumas vezes pergunta se acho que ele está ficando
louco. Em algumas situações, “o sangue ferve”. Lembro-me,
então, de alguns trechos das músicas do Legião Urbana:
“Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E hoje o
dia é tão bonito - já estamos acostumados a não
termos mais nem isso”. E “Já não sei dizer se ainda
sei sentir. O meu coração já não me pertence, já
não quer mais me obedecer. Parece agora estar tão cansado quanto
eu. Até pensei que era por não saber que ainda sou capaz de acreditar.”
Já chegou a criticar decisões de marketing da loja e a supervisora
recomendou-lhe não ser resistente a mudanças. Ele alega saber
o que é melhor para o cliente, já que trabalha diretamente com
eles. Em função de contratempos como este, diz, certa feita, ter
entrado para o livro da capa preta da gerente. Cita, com certa freqüência,
uma irritação consigo mesmo e com tudo ao redor: insatisfação
com a vida, com o trabalho, a má liderança da gerente, as injustiças
sociais. Descreve as sensações do corpo da seguinte forma: quando
está mal, é como se enfiassem uma tábua por baixo de seu
corpo e os músculos se contraíssem; sente-se apertado, doído,
duro, enrijecido. Sente prisão de ventre, digere mal. Teme ficar com
gastrite. Quando está bem, sente formigamento e leveza, respiração
leve, sem dores, relaxado.
J. A., para além da insatisfação com o trabalho e o temor pela sobrevivência da família, manifesta ora irritação, ora tristeza, diante de fatos sociais como a miséria e a violência. Algumas vezes, se emociona e beira as lágrimas, como, por exemplo, ao recordar-se de um garoto que lhe bateu à porta pedindo algo para comer, no natal, tempos atrás. Convidaram-no a entrar e se servir. Havia muita fartura. Deram-lhe coisas para levar também e algum dinheiro, mas a criança não quis aceitar por medo de seus pais acharem que ele o tivesse roubado. Insistiram, dizendo que podia trazer seus pais. A criança foi e mais tarde trouxe o troco do que haviam comprado. Nunca mais se sentiu bem nesta data. As sensações de impotência, de falta de autonomia em relação às próprias decisões e rumos na vida caminham, lado a lado, com o pesar pela falta de controle e exclusão sociais que insistem em corroer as instituições e as vidas. Em escalas micro e macro, uma perda similar.
O modo de ser-no-mundo de J. A. se aproxima da “maneira preocupada de existir” descrita por Forghieri (2004, p. 36): “um sentimento global de preocupação que varia desde uma vaga sensação de intranqüilidade [...] até uma profunda sensação de angústia que chega a nos dominar por completo”. Diz a professora, citando Heidegger (1971), que tal manifestação fundamenta-se no próprio ser do homem e, que, de alguma forma, se associa à angústia. A citação de Heidegger (1988) usada por ela (p. 37) nos faz recordar a ausência de objeto identificável no pânico: “A própria ameaça é indeterminada, não chegando, portanto, a penetrar, como ameaça, nesse ou naquele poder ser concreto e de fato.”
Com o avanço das sessões, vai fazendo relatos de situações em que entrou em ônibus sem ar condicionado, com pessoas usando perfumes fortes e não se sentiu mal (“acho que está sumindo!”). O Pondera “está esquecido” na bolsa. Voltou a jogar bola, depois de dois anos. Permanece, no entanto, a dúvida entre pedir demissão e procurar outro emprego, ou esperar ser demitido para ganhar o dinheiro que precisa para investir em um negócio próprio.
J. A., vez por outra, fica saudoso de um tempo em que brincava e era feliz, despretensiosamente. Chega a mencionar o desejo de abrir um centro de diversões para ensinar brincadeiras antigas às crianças. Pensa, também, em cursar Psicologia, porque considera que “deve ser prazeroso ter uma profissão que ajuda os outros”. Gostaria de só ter os problemas normais da vida, não estes do trabalho, por exemplo; conflitos internos que não consegue solucionar. Este saudosismo traz à lembrança uma fala de Juliano (1999, p. 40): “As pessoas tendem a se prender a experiências do passado ou a viver fantasiando possibilidades de futuro. Sonham acordadas em vez de se dedicarem a descobrir o que está imediatamente disponível, enfraquecendo sua energia para a ação”.
Sua angústia parece aumentar cada vez que se defronta com a idéia de deixar o trabalho, apesar de lhe ser tão insatisfatório, por medo de deixar a família desamparada. Teme o futuro, o que vem pela frente. Ao trabalharmos a apropriação das sensações e a percepção de seu próprio corpo, descreve o “peito e a cabeça apertados, os olhos doídos, pés duros, mãos e braços pesados, pernas enrijecidas (não sinto as pernas, perco a sustentação)”. Diz viver brigando consigo mesmo e que o faz para evitar brigar com os outros, prejudicando-se. Diz que tem vontade de “jogar as coisas para o alto e ver no que dá”. Reflete sobre seus problemas e conclui: “eu sou o problema e preciso equacionar o meu problema; o caminho talvez seja parar de exigir dos outros e de mim mesmo”. Diante desse seu processo interno, cabem bem as palavras de Forghieri (2004, p. 32): “Pela autotranscendência, a pessoa traz o passado e o futuro para o instante atual de sua existência e se reconhece como sujeito responsável por suas decisões e seus atos”.
Duas sessões após, diz estar feliz com a descoberta do motivo de suas insatisfações e mau humor: o trabalho. A importância dessa declaração reside no fato de ter se apropriado e verbalizado “sua verdade” em alto e bom som. Chegou a escrever uma “carta” para si próprio e a trouxe para mim (anexo C). Salienta, agora, outra questão, que passa de segunda para primeira prioridade: está assustado com a descoberta, pois teme sair do emprego e deixar a família desamparada. Divido com ele algo que li recentemente em um livro - “A Alma Imoral” (BONDER, 1998). Cito uma metáfora, descrita no livro, que me veio à mente, em relação à sua questão: “Sabe qual é a distância entre o Ocidente e o Oriente? Uma simples volta. O verdadeiro grande crime do ser humano é que ele pode dar-se uma simples volta, a qualquer momento, mas não o faz” (p. 81). Por temer tanto a idéia do desemprego, adia a constatação de que seu corpo e mente pedem uma pequena grande volta e vai procurando justificar sua insatisfação por intermédio de outros elementos.
Em um determinado dia, sofre uma queda e é afastado do trabalho. Sente-se feliz e pensa em pedir para ser demitido assim que terminar a licença. Pretende trabalhar como autônomo: tem muitos planos. Quer mudar radicalmente de vida, voltando a ter controle sobre ela, ser seu próprio dono. Na volta da licença, é advertido por má conduta profissional e recusa-se a assinar a advertência. O motivo: almoçou no refeitório da empresa sem ter feito a marcação devida no dia anterior. Não obstante, estava voltando da licença médica. Ao argumentar sobre isso com a gerente, ela diz, sorrindo, que isso era problema particular dele. Diante do ocorrido, sentiu-se mal, com ânsia de vômito e frio na barriga. Considera que a empresa está agindo de má-fé, demitindo as pessoas por justa causa sem justificativa plausível. Não entende os motivos pelos quais criam motivos excusos para demitir os empregados, uma vez que muitos gostariam de ser demitidos, recebendo aquilo a que fazem jus.
Em 04 de agosto de 2007, sentindo ainda muitas dores no braço, recebe nova dispensa médica. Menciona que sua gerente “não ficou nada satisfeita, mas...”. Neste período, busca pensar em coisas que gostaria de fazer: marcenaria, serviço de entregas, comércio de gaiolas ou uma agência lotérica, escola de brincadeiras para crianças, serviços na área de construção civil etc. Durante este tempo, se dá conta de que, em função do trabalho desmedido (só tem uma folga na semana e nem sempre é no dia que gostaria), “eu parei de viver”. Mais algumas sessões e J. A. ainda vivencia o conflito. Descreve-o como “um aperto no peito, uma coisa ruim”.
Em 08 de setembro de 2007, J. A. é demitido com todos os direitos. Ficou bastante satisfeito. Diz que muitos colegas querem muito isso e não conseguem, apesar de “fazerem por onde” com faltas etc. Não parece mais o homem preocupado com a perda do emprego. Descobriu, a certa altura, que seu medo era recomeçar e já não teme mais: “Doutora, o meu problema era a “XXXXXX” (o nome da loja).
Em 15 de setembro de 2007, volta a mencionar o receio pelo futuro. Passamos, então, a trabalhar com isso e, no processo, compara-o a um manto escuro. Proponho-lhe um experimento, mediante o qual desejo propiciar-lhe um contato com seu medo, a possibilidade de desmistificá-lo, avaliar-lhe os fundamentos, distinguindo entre o que há de concreto e de irreal nele e; com a mesma força de vontade que manifestou ao iniciar a terapia ( “sei que tenho as ferramentas”), suplantar seus temores ao menos o suficiente para não ficar estagnado. Peço-lhe, assim, que, de olhos fechados, entre em contato com o manto - que o toque, sinta sua textura, que o levante devagar, como uma criança curiosa e diga o que há por baixo. Ele segue cada etapa e, ao “levantar o manto”, vê “luz”. Ao verificar o que sente, diz sentir-se bem, que o que há são possibilidades e não o que temer. Peço-lhe que o enrole, que o dobre até caber na palma da mão. E então, que abra sua mão e diga o que vê. Ao abri-la, diz: “É uma bolinha de papel; eu posso até jogá-la fora!”
A seguir, passa a me contar os seus planos e tudo o que pretende realizar. Diz que no começo da terapia se cobrava muito por não fazer as coisas como deveria (brigo comigo mesmo, fiz errado, sou burro!). “Depois do tratamento, passei a pensar que não deu porque não tinha que dar, eu fiz tudo certo. É bem melhor agora”. Uma questão ainda o incomoda, no entanto; uma questão do início da terapia: Teme ser individualista, pois é algo que julga ser ruim, uma característica negativa. Ao trabalharmos o sentido disso para ele, inicialmente, define o termo como vindo de alguém que faz tudo sozinho, sem ajuda de ninguém. No decorrer do processo, certifica-se de que gosta de trabalhar sozinho, mas pede ajuda se necessário, e não tem medo de pedir desculpas, se preciso for. Parece confortar-se com sua auto-análise.
Faz um balanço
de sua modificação ao longo da terapia: “Parei para pensar
o mal que o trabalho faz para uma pessoa. Ou o erro é nosso que deixa
a coisa chegar neste ponto? Considera: O psiquiatra dizia para eu mudar de emprego,
mas trocar de emprego não é como trocar de roupa.” Diz que
o trabalho realmente lhe fazia muito mal. Não sabe ao certo se o “trabalho”
é ruim ou se “a gente deixa que ele faça mal”. E pergunta-se
de novo: “Será que o trabalho é ruim ou a gente consegue
se enveredar por um caminho que não consegue voltar mais? Chega um estágio
em que a gente cai doente, o organismo não vai sustentar. Antes, tinha
um objetivo, mas alcançá-lo não tinha preço. Agora,
nem manda que não vou fazer, sei que não tenho estrutura. O conhecimento
disso eu sei que eu devia ter - estava guardado; eu tinha as ferramentas mas
não sabia usar. Hoje eu tenho consciência.”
Está agora com ânsia de liberdade, cheio de planos. Tem tantos
projetos diferentes que não consegue se organizar: “estou desregrado”.
Diz querer ter a simplicidade das crianças para resolver as coisas. Pensamos
juntos sobre o peso que o prazer na atividade desempenhada possui para ele,
em relação ao investimento de tempo e do retorno financeiro. Relembramos
que “detalhes” como liberdade, prazer e autonomia são fundamentais
para que ele se sinta bem no exercício de qualquer atividade - e que
talvez isso o ajude a tomar a melhor decisão. Pergunto-lhe pelo gráfico
e ele diz não se lembrar mais dele: “está sempre em cima!”.
Conta-me que vai voltar a trabalhar, desde que seja de segunda a sexta. Diz
estar se sentindo muito bem agora, que aprendeu seu limite e que não
irá mais se esforçar para ultrapassar a si mesmo.
Para além de quaisquer questões técnicas, como fenomenólogos que tentamos ser, não podemos nos furtar de mencionar o lugar da relação pessoa a pessoa que “suportou” o processo psicoterápico em apreço, possibilitando e favorecendo o contato. Conforme Zuben (apud FORGHIERI,1984, p. 76), referenciando-se ao pensamento de Buber: “O encontro, o instante da terapia não acontece entre um cientista e seu objeto de investigação, mero vínculo Eu-Isso, mas entre duas pessoas mediadas pela relação de ajuda”. E nas palavras de Erthal (2004, p. 61): “A força do diálogo é capaz de tornar uma pessoa livre e responsável por seu próprio destino”.
Eis um trecho de fim de sessão, que expomos como exemplificação:
J. A.: Acho incrível entrar no mundo do outro e trazê-lo da escuridão para a luz.
Terapeuta: Sim... Não é puxar o outro com um anzol (rss), mas ficar ao lado dele e criar condições para que fale consigo mesmo em voz alta, e se compreenda, à medida que a escuridão se dissipa.
J. A.: Não, não é puxar, é vir caminhando junto, até que ele possa caminhar sozinho.
Terapeuta: Sozinho a gente nunca fica... (pensando no sentido de não se poder existir só).
J. A.: Sim, mas até ele (o cliente) encontrar um outro amor - é como amor materno e paterno: nunca acaba, mas o filho casa...
Terapeuta: Você está poético hoje! Rss
J. A.: É, eu estou! A única coisa ruim é quando você diz: J. A., o tempo acabou!
Terapeuta: J. A., o tempo acabou! Rss. (pois já tinha acabado mesmo!)
J. A.: Rindo: Tenho que dar um jeito de atrasar o relógio!
Terapeuta: Eles bateriam na porta!
J. A.: Eu diria que eles estavam enganados.
Terapeuta: Aí estaríamos mentindo e não teríamos aprendido nada.
Risos. Levantam-se.
O terapeuta comenta como é bom vê-lo tão bem.
Saindo os dois da sala, J. A. vai contando um caso sobre um atraso no relógio do trabalho.
A seqüência de faltas, ao fim do processo, denunciou que J. A. já
estava pronto para sair de casa e encontrar um outro amor.
6. Discutindo o caso - o final da história
Existem
momentos na vida onde a questão de saber se se pode pensar diferentemente
do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável
para continuar a olhar ou a refletir.
Michel Foucault, O Uso dos Prazeres
O Código Internacional de Doenças (CID 10) nos dá uma boa
medida da visão biológica (a prevalente, diga-se de passagem)
acerca dos conflitos geradores de sofrimento humano. Pelo prisma psicopatológico,
podemos ver, curiosamente, questões psicossociais como “desacordo
com o patrão e colegas de trabalho” e “má adaptação
ao trabalho”, codificadas, respectivamente, como Z-56-4 e 56-5, no Capítulo
XX - Dimensões culturais e subjetivas na relação entre
trabalho e doença mental. Apesar de elencadas sob um título que
pressupõe a co-participação de elementos do meio, ainda
assim tais questões encontram-se sob júdice da visão médica
tradicional, que arroga para si a classificação de todo e qualquer
sentimento e comportamento humanos. J. A., diante de um psicopatólogo
ou psiquiatra mais refinado, além do F. 41.0, poderia ter ganhado tais
“Zês” para requintar e “fechar” seu diagnóstico.
Obviamente, não podemos deixar de reconhecer a importância dos fatores biológicos em qualquer quadro adoecedor. Não é esse nosso questionamento. Não obstante, queremos ir além, conforme Juliano (1999, p. 37- 38): “O aparato sensorial básico de todo ser humano é anatômica e fisiologicamente igual. Os sintomas parecem ser os mesmos em todas (as pessoas). O que muda é o que elas fazem de seus sintomas. Qual é o sentido desses sintomas na vida dela? A que se destinam?”
Perls, na abordagem que defendemos, diferentemente da visão, biológica, pragmatista, cartesiana de causa e efeito, que considera o organismo como o locus da doença, assevera que:
Ninguém é auto-suficiente; o comportamento do indivíduo é uma função do campo total, que inclui a ambos: ele é seu meio. O meio não cria o indivíduo, nem este cria o meio. Cada um é o que é, com suas características individuais. O estudo do modo que o ser humano funciona no seu meio é o estudo do que ocorre na fronteira de contato entre o indivíduo e seu meio (1985, p.31-32).
O criador da Gestalt-terapia afirma, ainda (1985), que um não é vítima do outro. O relacionamento entre eles é dialético. Para satisfazer suas necessidades, o organismo tem que buscar os suplementos necessários no meio, sendo plenamente capaz de encontrá-los. Após encontrá-los, precisa manipulá-los, de modo que o equilíbrio orgânico seja reinstaurado e a gestalt se complete. Intuitivamente, J. A. tangenciava a questão, ao se indagar: “o trabalho é ruim ou a gente deixa que ele faça mal?”
Podemos conceber “o trabalho” no discurso de J. A. em paralelo com o conceito de campo, o qual esteve presente na análise o tempo todo: o pânico não era uma reação sintomática promovida a partir de uma realidade interior do sujeito, pura e simplesmente. Representava uma reação ao conjunto de forças do campo onde se desenrolaram os fatos que desencadearam o adoecimento e a forma como tal conjunto operou - as características da organização do trabalho. Ao analisar o peso delas na vida de J. A., estudamos a organização do campo geográfico, social e ambiental, a partir das forças em atuação.
As ações do organismo, portanto (incluindo aí a “ação” de adoecer), só podem ser explicadas em função dos processos que se exercem dentro do sistema, conforme já explicitamos. Por intermédio da teoria geral dos sistemas, de Ludwig Von Bertalanffy, Alvim (2000, p. 71) analisa a “existência de fronteiras permeáveis entre as organizações e o meio externo, configurando uma troca e uma influência mútua organização-ambiente, estreitamente correlacionada com a teoria de campo”, de Kurt Lewin. De tal feita, a empresa seria vista como um grande campo unificado, um espaço vital composto por diversos outros campos. Façamos, então, considerações acerca dos elementos da fronteira organismo/meio.
J. A. chegou ao setting terapêutico completamente enrijecido - física, emocional e cognitivamente. O contato com a realidade encontrava-se entorpecido e - como se fez constatar, ao fim do processo, para o seu próprio bem: O corpo, sabiamente deu-lhe sinais de que havia coisas a mudar, repensar, transformar. Vemos o conceito de tensão claramente presentificado em seu corpo e ações, pelo estado alterado de determinadas regiões do organismo; como, por exemplo, suas pernas, constantemente agitadas. Como Cardoso (2002, p. 61) observou: “Muitas vezes a pessoa chega à terapia com a capacidade de escutar a si mesma comprometida. É como se ela tivesse perdido temporariamente a habilidade de se perceber no mundo e de decodificar e compreender sua própria linguagem”.
Rodrigues (2008) diz algo parecido. A autora acredita que o indivíduo que tem ataque de pânico esteja com suas “defesas internas em estado de falência”. A ansiedade o toma e o invade de forma intensa e com uma força incontrolável. De acordo com ela, a pessoa teria perdido a capacidade de agir contra tal invasão que vem de si mesmo e não de fora e, de tanto evitar o contato com tudo que poderia causar medo e ansiedade, passa a sentir medo e ansiedade incontroláveis, sem uma situação ou objeto conscientemente perceptíveis. Fazer psicoterapia em Gestalt seria trabalhar estas interrupções de contato, utilizadas para evitar ou suportar o conflito entre necessidades internas e imposições do meio, o que se alcança por intermédio da ampliação da consciência do cliente. Isso se faz tornando-o aware de suas situações inacabadas, no presente. Para tal, o terapeuta se orienta pelo que observa no paciente - seja por intermédio da linguagem verbal, seja não-verbal.
Observamos J. A. flutuando entre a figura (a necessidade de apropriar-se de um sentido, um valor para seu lugar no mundo, por intermédio da atividade desempenhada) e o fundo - questões do cotidiano e outras, existenciais, como a sensação de isolamento, loucura, insatisfação consigo próprio e com outros, raiva frente a determinadas conjunções sociais etc. Observa-se que não há relação natural entre a figura isolada (o trabalho) e a totalidade do organismo. As tarefas lhe são impostas, com um agendamento específico e de forma pré-formatada. O comportamento apresenta-se desordenado, inflexível e inapropriado, em conseqüência desta falta de contato. Não há reconhecimento da figura dominante que, perdida em meio a outras insatisfações e necessidades, dificulta o fechamento da Gestalt; o direcionamento da energia para outras situações de vida como o relacionamento com a família, o descanso, o lazer etc., relegadas a segundo plano.
J. A. parecia incapaz de manipular seu meio a fim de atingir suas necessidades. Comportava-se de modo desorganizado e ineficaz. Estava tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Aparentemente, vivia um conflito, pois se encontrava dividido entre duas situações inconsistentes, que requeriam sua atenção: a vontade de autonomia, que passava pela necessidade de romper o vínculo com o trabalho e a necessidade real de mantê-lo, com vistas a suster sua família. Conforme Perls (op. cit., p. 34.), estava “pendente entre a impaciência e o pavor”. A impaciência, produzida pela presença de uma necessidade e do distúrbio do equilíbrio, representa uma base positiva, já que, por meio dela, a mudança pode acontecer. Por outro lado, o pavor; uma base negativa, que coloca em risco a possibilidade da fuga para atingir o equilíbrio.
J. A. não vivenciava seu organismo como um sistema organizado; as potencialidades que poderiam regular seu crescimento pessoal e seu potencial de auto-regulação estavam obnubiladas; seu funcionamento sadio, obliterado, em função dos altos níveis de tensão. Havia uma necessidade forte não atendida. Para ser satisfeita, seria necessário que tomasse decisões para as quais não se sentia preparado.
Em função deste doloroso antagonismo, mantinha-se fixado em certos padrões de percepção e comportamento, desconhecendo seu potencial auto-regulador. Para lidar com o incômodo evocado por este quadro, recorria a sentimentos e ações saudosistas, lugares seguros e protetores, já conhecidos. Na verdade, não estava “aware” do seu processo, por não fazer contato com ele, com sua necessidade precípua. Neste sentido, talvez pudéssemos pensar que o sintoma o estivesse “protegendo” de apoderar-se do sentido de sua revolta, insatisfação, medo e culpa e, conseqüentemente, ter de fazer uma “pequena grande volta”.
Podemos ver na descrição feita por Perls, acerca da neurose, elementos comuns no comportamento do cliente.
A neurose é a doença que surge quando o indivíduo, de alguma forma, interrompe os processos contínuos da vida e se sobrecarrega com tantas situações incompletas que não pode prosseguir satisfatoriamente com o processo de viver. Todas as vivências inacabadas de sua vida, todas as interrupções do processo contínuo perturbaram seu sentido de orientação e ele não é mais capaz de distinguir entre os objetos ou pessoas. Perdeu a liberdade de escolha, não pode selecionar meios apropriados para seus objetivos finais porque não tem a capacidade de ver as opções que lhe estão abertas (op.cit. p.38).
Perls (op. cit., p. 76) denuncia o fato de o neurótico estar “engajado, cronicamente, em se auto-interromper”. Seu sentido de identidade e de auto-suficiência é inadequado e seus esforços para a aquisição de equilíbrio, mal dirigidos. O enrijecimento físico e psicológico de J. A. lembra-nos o alerta de Perls (op. cit., p. 40), de que o indivíduo deve ser sempre mutante se quiser sobreviver. Do contrário, torna-se incapaz de alterar suas técnicas de manipulação e interação, que desencadeará a neurose.
O medo do desemprego, que impede J. A. de “acertar as contas” consigo
mesmo, é compreensível. Alvim (2006, p. 7) nos ajuda a compreender
o dilema: “Semelhante destruição do status quo pode provocar
medo, interrupção e ansiedade, proporcionalmente maiores à
medida que sejamos neuroticamente inflexíveis.” Mais do que ter
um vínculo empregatício formal, a idéia do desemprego pode
remeter à idéia de fracasso. Conforme Sennett, fracasso de um
tipo mais profundo: incoerência na construção do futuro,
a sensação de não haver realizado algo valioso, não
haver vivido, mas simplesmente existido. Ao citar Lippmann (1914, p. 144), Sennett
reforça tal posição: “A narrativa de vida de uma
carreira é uma história de desenvolvimento interior, que se desenrola
por habilidade e luta: temos de lidar com (a vida) deliberadamente, imaginar
sua organização social, alterar seus instrumentos, formular seu
método.”
Não obstante, Sennett faz a mesma reflexão (p. 158), ao discutir
os tabus que cercam o fracasso e a possibilidade de se aprender com ele que
“liberta a pessoa que fala para assumir o controle da narrativa.”
Ao tomar a vida nas próprias mãos, a história pode fluir.
O momento definidor ocorre quando se passa da condição de vítima
passiva, para uma condição mais ativa A preservação
da voz ativa é a única maneira de tornar suportável o fracasso.
Justamente quando passou a ver o “fracasso” como uma possibilidade
de transformação é que J. A. pôde libertar-se de
seu jugo. E prosseguir.
O modo de funcionar de J. A. é bastante similar ao do retrofletor, especialmente
no que tange aos altos níveis de cobrança e à ênfase
na facilidade de trazer para si um excesso de ocupações, tornando-se
sobrecarregado. A ânsia de fazer tudo com extremo rigor e perfeição,
por fim, se constituiu como meta inalcançável , inviabilizando
o uso adequado da energia Diante do conflito entre a auto-exigência e
a impossibilidade de cumprir o que se auto-exigia, gerou-se um sentimento de
inadequação e auto-depreciação: ter raiva de si
mesmo, se julgar louco, “brigar comigo mesmo o tempo todo” etc.
- uma luta inglória e fadada ao insucesso por trazer, em seu bojo, uma
cisão interna que o solapa e contribui para desencadear a síndrome.
Alvim (2006)
elucida ainda mais este tipo de comportamento: o retrofletor se divide e age
manipulando a si próprio como se fosse o meio, internalizando o controle.
Citando Hall (2003, p. 6), referenda que as instituições coletivas
agem individualizando, isolando e vigiando o sujeito individual. Com isso, nas
palavras da autora, o sujeito passa a ser o seu próprio capataz, que
se obriga a correr, trabalhar e produzir. Conseqüentemente, se sente necessário,
insubstituível, poderoso, independente. E passa a sofrer as conseqüências
de tanta auto-exigência: depressão, DORT, stress. Acrescentamos:
pânico.
A questão da falta de autonomia, também no que diz respeito ao uso do tempo, é outro elemento marcante na fala do cliente. Ele se ressente de não poder dispor do tempo conforme o próprio ritmo e possibilidades. Sente-se enclausurado em função do controle rígido da empresa, que faz com que relegue seus interesses e necessidades mais humanas ao segundo plano. De novo nos vem à mente a análise sociológica de Sennett: a velha ética, do “velho” mundo do trabalho, baseava-se no uso autodisciplinado do tempo: a ênfase era posta na prática voluntária, auto-imposta, não na simples submissão passiva a horários ou rotinas. E propõe uma “nova apreciação dos seres humanos como criaturas históricas, criaturas que não simplesmente agüentam, ano após ano, mas antes evoluem e mudam” (p. 121). Incisivamente assevera que “falta de controle sobre o tempo de trabalho significa morte espiritual” (p. 87). Sobre isto, Alvim também questiona o fato (2006, p. 04): “o indivíduo se exige um investimento brutal de tempo, energia e vitalidade no trabalho e na organização, que não deixa tempo para “ser”. A organização fica com a melhor parte”.
Como fica claro em diversas passagens, J. A. é um trabalhador que, diferentemente
de muitos outros, não se isenta, em nenhum momento, do movimento e do
compromisso com o trabalho. Neste ponto, afirma que sempre teve a facilidade
de gostar daquilo que fazia, mesmo não sendo o que desejava: “Qualquer
atividade: abrir buraco, ser vendedor. Sempre procurei gostar do que faço,
sempre procurei me adaptar, senão seria horrível”. Uma amiga
lhe disse que ele era como cachorro vira-lata: se acostuma com qualquer dono.
E ri da comparação. O que o angustia é justamente a falta
de sentido no que faz e a impossibilidade de se realizar como sujeito de sua
ação. Na maioria das vezes que procura imprimir sua marca no trabalho
através de alguma sugestão, é rechaçado. De tal
forma, sofre a contradição entre “ter que fazer” e
não poder fazer como julga correto, com a expressão do melhor
de si, mas apenas como ação mecanizada, sem desafios e encomendada
para um fim que lhe é alheio. Lembra-nos a consideração
feita por Sennett (op. cit.) de quando, para o trabalhador, o trabalho não
é mais legível, no sentido de entender o que está fazendo.
Schwartz (2007, p.191) atenta para o fato de que “quando se trabalha, não há uma simples submissão a procedimentos, à execução estrita de uma tarefa, mas, principalmente, o uso de um capital pessoal”. Neste sentido, haveria um apelo a um “uso’, em que o trabalhador se coloca como pessoa singular, ressingularizando a atividade. Indo além, diz o analista (pág. 192): “Ser determinado completamente pelas normas, pelas imposições de um meio exterior, não é “viver”, é, ao contrário, algo profundamente patológico.
J. A. também não consegue entender os motivos de sua demissão e da dos colegas, ou de ser considerado portador de má conduta profissional, conforme alegado. Até mesmo sua experiência acumulada no setor de vendas e no contato com o público parece ser mal vista, tida como afronta aos interesses financeiros da empresa, que privilegia números ao invés de qualidade de atendimento e serviços. Ele vai além do que lhe é exigido, na tentativa de imprimir sua marca no que faz e isso parece gerar desconforto em alguns ao derredor. Os chefes se ressentem de suas idéias e desprezam-nas, ao passo que ele se ressente de ter superiores tão pouco objetivos e “burros”, mais preocupados em defender pontos de vista particulares do que no efetivo crescimento da empresa. Vimos estes tópicos na discussão de Sennett acerca de como é vista a experiência dos mais velhos no contexto capitalista atual, a falta de autoridade dos líderes e os conflitos daí emergidos. Idealisticamente, ao menos, pensamos como Sennett (op. cit., p. 176): “um regime que não oferece aos seres humanos motivos para ligarem uns para os outros não pode preservar sua legitimidade por muito tempo”.
Em vista de sua dedicação e compromisso, ser visto como um trabalhador problema representa um antagonismo que gera culpa interna e dúvidas em relação aos próprios valores, à própria sanidade, até. Lembramos, igualmente, a consideração de Sennett sobre o dilema de se decidir o que tem valor duradouro em nós, em uma sociedade impaciente, que se concentra no momento imediato e do fato de previsibilidade e confiabilidade não serem traços de caráter destacados na cultura flexível atual - a cultura da imagem e da informação, em que não há base firme. Neste cenário, diz o sociólogo, enquanto trabalhadores, temos que nos defrontar com o “dilema de como organizar as histórias de nossas vidas num capitalismo que nos deixa à deriva (p. 140, op. cit.)”.
Concretamente, J. A. não vislumbra possibilidade de crescimento na empresa fazendo o que gosta, o que o esmaga. Relaciona-se com o público, na área de vendas. Uma eventual promoção o confinaria a trabalhos estreitamente burocráticos, menos criativos, com menos autonomia e liberdade do que já dispõe no momento. Tal opção encontra-se fora de cogitação - J. A. “sofre” de ânsia de liberdade, de necessidade de encontrar prazer e sentido, no exercício da criação. Quanto ao veneno da rotina e da impossibilidade de exercitar a criatividade, Sennett diz:
A rotina torna-se autodestrutiva, porque os seres humanos perdem o controle sobre seus próprios esforços. E em todas as formas de trabalho, desde esculpir a servir refeições, as pessoas se identificam com tarefas que as desafiam, as tarefas difíceis. A resistência e a dificuldade são importantes fontes de estímulo mental; quando temos de nos esforçar para conhecer uma coisa, a conhecemos bem (op. cit., p. 41, 87).
Contudo, ao não entender o que faz, o trabalhador torna-se fraco e seu compromisso com o trabalho, superficial. Tudo o que J. A. não quer. No entanto, cumpre o vaticínio do que há de saudável no comportamento retrofletor: consegue, mediante um processo de awareness e interiorização de novas percepções, reformular suas crenças, valores e limites. Utiliza suas novas descobertas em favor de uma melhor distribuição de energia, aproximando-se da satisfação de suas necessidades mais prementes.
Este foi um segundo passo, tão importante quanto o primeiro, pois, conforme Ribeiro,
[...] após o cliente ter descoberto algo, ele precisa saber e sentir que direção tem este sentimento, com que tipo de energia ele pode contar, onde exatamente começar ou o que fazer exatamente. Ele tem que saber o que, de fato, quer. Não basta o cliente saber que descobriu o que o preocupa. O problema é o como sair do conflito. (1985, p.116)
O processo de resolução da demanda é, de certo modo, “solitário”. Ribeiro (op. cit., p. 110) referenda que é o próprio cliente quem vai descobrir o que procura e como lidar com suas descobertas. A função do psicoterapeuta reside apenas em mostrar o que já estava nele, o que ele já possuía, ou seja, faz com que o cliente tome posse de si próprio. O procedimento técnico da terapia é ajudar o cliente a se aproximar do que ele experiencia - traduzir o fato em algo que tenha significado para ele.
O trabalho psicoterapêutico, frente a tais temores e inseguranças,
consiste em fortalecer o cliente para a tomada de decisão mais coerente
com a efetivação da mudança desejada por ele, o que só
se faz mediante um processo experiencial, o que Alvim (1996, p. 6) também
ratifica, na citação de Perls; Hefferline; Goodman (1997): “O
processo vem acompanhado da segurança da nova invenção
que passa a existir experimentalmente. Aqui, como em qualquer outra situação,
a única solução de um problema humano é a invenção
experimental.”
A psicoterapia gestáltica pode ser, nas palavras de Alvim (1996, p. 6-7),
“um caminho para trabalhar essa capacidade inventiva. Diante da angústia,
o homem pode transcendê-la e atribuir um sentido ao ser: agride, cria
e transforma - transgride. Ultrapassa, então, o estágio da angústia
e toma o destino nas próprias mãos”.
Rossi (2003, p. 17) discute o fato de como “algo tão insubstancial
como a mente pode influenciar algo tão sólido quanto nossa própria
carne e sangue”. Tanto ele quanto Cousins (1993) estão convictos
de que as crenças que defendemos e que fomentam nosso modo de pensar
e agir podem, às vezes, ter um efeito profundo na forma de lidar tanto
com a doença quanto com os demais desafios da vida diária. J.
A. passou a se dar conta disso e, a partir de então, passou a sentir-se
mais convicto do que precisava modificar em si mesmo - como disse Perls (op.
cit., p. 76): Quanto mais se der conta de si mesmo, mais aprenderá sobre
o que é seu si-mesmo. Forghieri (2004, p. 32) defende idéia similar:
“À medida que vou descobrindo quem sou, este autoconhecimento ou
consciência-de-mim também vai me propiciando uma perspectiva, ou
um modo peculiar de visualizar as situações que vivencio no mundo.”
Conforme preceitua a holística, o trabalho focou o presente, orientando a integração dos pensamentos, sentimentos e ações, o que acabou provocando mudanças nas atitudes de J. A. Conforme Cardoso:
É de responsabilidade do psicoterapeuta auxiliar a pessoa a recuperar a capacidade de ouvir a si própria, propiciando um ambiente favorável ao estabelecimento de uma relação autêntica entre ambos. Na escuta fenomenológica do psicoterapeuta está implícito o reconhecimento da sabedoria da pessoa do cliente, legitimando-a como a única detentora do conhecimento sobre si mesma. (2002, p.62,68)
Perls (op. cit., p. 75) também explicita que o objetivo da terapia deve ser o fornecimento de meios para que o cliente possa resolver tanto seus problemas atuais quanto qualquer outro que surja futuramente. O instrumento pelo qual se atinge tal objetivo é o fortalecimento da auto-estima, pela utilização dos recursos próprios de que o cliente dispõe no momento. A cada momento, deve tentar verdadeiramente perceber-se a si próprio e as suas ações em seus diversos níveis - fantasia, verbal ou físico e tentar identificar o que está provocando suas dificuldades. Conforme Perls, desta forma, cada resolução torna mais fácil a próxima porque cada uma delas aumenta sua auto-suficiência.
A orientação de Perls ao terapeuta é a de ser sensível ao que é apresentado superficialmente pelo paciente, de modo que sua percepção possa habilitar o paciente a criar sua própria conscientização. Tentando ser obediente ao mestre, minha percepção, nesse caso, consistia em me dar conta dos recursos de que o cliente dispunha e aos quais não estava tendo acesso, além do fato dele próprio não estar conseguindo detectar, nomear e priorizar sua necessidade básica: encontrar sentido na tarefa e prazer no trabalho.
Trabalhando desta forma, nos aproximamos do dito por Kleinman (op. cit.) de que há evidências indicando que mediante o exame das particularidades significativas da doença do sujeito é possível quebrar o círculo vicioso que amplifica o sofrimento.
Após submeter a presente discussão à apreciação de J. A., nos encontramos para revê-la. Ele trouxe considerações por escrito, fez perguntas, sugeriu que modificasse seu pseudônimo (havia um, provisório, que, segundo ele, possuía uma tonalidade muito informal para o trabalho). Eu mantinha - profissional e pessoalmente, a preocupação com a manutenção dos ganhos evidenciados durante o tratamento até o momento atual. Sobre isto, diz, logo de início, que ao sentir o coração disparando vez por outra, percebe o quanto isto tem a ver com seu estado de tensão momentâneo. Cita o emprego que teve logo que saiu do tratamento, em uma concessionária: “Foi maravilhoso”. Nele lhe foi dada a opção de trabalhar onde julgava melhor e em seu próprio ritmo. Ao contrário da maioria, entendia-se muito bem com o chefe, que não possuía figura autoritária, segundo ele. Pondera que tais desentendimentos ocorriam porque “os empregados não eram flexíveis com o chefe”.
J. A. continua preocupado com as questões sociais (a pobreza, a criminalidade, a exclusão, em especial das crianças de rua). Pergunta-me, também, por que, de forma quase generalizada, os patrões ainda exigem dos empregados a subserviência e a alienação da tarefa, se parece ser tão óbvio que, desta forma, eles adoecem tanto e produzem muito menos (cita os altos índices de afastamento do trabalho, pelo INSS, de trabalhadores com problemas mentais). Relembra a forma respeitosa e humana pela qual foi tratado por um antigo chefe, que chegou a liberá-lo por até quarenta dias para tratamento de saúde de pessoas da família, sem descontos, só pra vê-lo bem e produzindo melhor, com tranqüilidade.
Como muitos outros cidadãos, gostaria de ter resposta às perguntas e inquietações de J. A. O que sabemos é que, de fato, parece ser um fenômeno psicossocial já entranhado, com conotações fortemente políticas, como vimos anteriormente, a dificuldade e a falta de perspectiva holística de diversos setores, das conseqüências destes processos de dominação e alienação, a médio e longo prazo. Uma triste realidade: uma grande anomia social.
Atualmente, J. A. está desempregado, mas sente-se tranqüilo. Já tem novos planos e ofertas de trabalho. Sabe que pode fazer qualquer coisa, desde que obtenha prazer no que faz. Afirma: “hoje estudo muito meu corpo”. Consegue identificar o motivo de sentir-se mal vez por outra como, por exemplo, em função das poucas horas de sono. Desta forma, considera-se muito mais tranqüilo, ciente de seus limites: “Antes eu extrapolava, me excedia. Agora sei onde parar: se algo vai me fazer mal, é melhor parar.”
Diz também algo significativo: “Hoje, o J. A. lida melhor com o J. A”. Tal fala me traz à lembrança, uma outra sua, do começo da psicoterapia: “Vivo brigando comigo mesmo!” Recordo-me das palavras de Forghieri (2004, p. 32): “ Pela autotranscendência, a pessoa traz o passado e o futuro para o instante atual de sua existência e se reconhece como sujeito responsável por suas decisões e seus atos. A autotranscendência permite ao ser humano tanto voltar-se para o passado como... lançar-se no futuro para refletir e avaliar seus próprios recursos e as possibilidades que possui para enfrentar, não apenas a situação imediata, mas, para ir, imaginativamente, muito além dela.
Finalmente, J.A. considera: Conheço melhor o meu eu, que antes não conhecia. Acho que isso disparou a síndrome do pânico”. Pergunto sobre os remédios - ele mantinha alguns na bolsa para uma eventualidade, ainda durante o processo psicoterápico. Conta que, ao fazer arrumações recentemente, encontrou um, fora da embalagem, perdido em uma gaveta e já não se lembrava qual era e para quê servia. .
Ao falar de seu crescimento pessoal, menciona a confiança que deposita em mim e se emociona. Pergunta-me sobre o vínculo terapêutico - se, porventura, termina um dia: “Eu penso que (o cliente) seria como um filho, não é?”. Internamente, com “os meus botões”, reflito sobre a responsabilidade, privilégio e beleza da profissão. E me emociono também.
7. Considerações finais
Nós descobrimos que produzir coisas, viver para coisas e trocar coisas não é o sentido fundamental da vida. Descobrimos que o sentido da vida é que ela deve ser vivida e não comercializada (PERLS apud ALVIM, 2006, p. 4).
A interrogação que nos fizemos desde a concepção
deste trabalho, Perls (op. cit., p. 42) já havia feito: o que permite
o surgimento de distúrbios no campo organismo/meio. Conforme disse, provavelmente
os sociólogos tomariam como base o meio ambiente. Os psicólogos
e psiquiatras procurariam ver, cada um a seu modo, o que acontece no indivíduo.
Enquanto a discussão ocorre, o indivíduo, que é parte de
um grupo, necessita de contato com ele, um de seus primitivos impulsos psicológicos
de sobrevivência. Se não houver um bom contato nem uma boa fuga,
tanto ele quanto o meio ficariam afetados. Se encararmos o homem em seu meio,
tanto como indivíduo quanto como ser social, como parte do campo organismo/meio,
não podemos jogar a culpa desta alienação nem no indivíduo
nem no meio. E desde que o indivíduo e o meio são meramente elementos
de um único todo - o campo, nenhum deles, defende Perls (op. cit.), pode
ser considerado responsável pelas doenças do outro. Mas ambos
estão doentes, conclui.
Dentro de uma perspectiva holística (para a qual concorrem saberes das mais diversas áreas do conhecimento humano), a exemplo dos estudos de Kleinman (op. cit.), vimos como os valores culturais e relações sociais colaboram para moldar nossa percepção e monitorar nossos corpos, rotular e categorizar sintomas corporais, interpretar queixas no contexto particular de nossas situações de vida, bem como expressar o adoecimento por intermédio do discurso do corpo, emergindo a doença, neste contexto, como uma ponte simbólica que conecta corpo, self e sociedade.
Sob a co-responsabilidade e atuação do organismo em face de contingências externas, já discutimos o bastante. Conforme Rossi (op. cit., p. 17), “hoje há milhares de estudos correlacionais que mostram vínculos estatisticamente significantes entre atitudes de mente, humor e fatores “socioculturais” com as doenças do corpo”. Chegando ao fim de nosso estudo, podemos ver corroborada a afirmação de Kleinman (op. cit.) de que o estudo do sentido do adoecimento não é apenas o estudo de uma experiência particular individual; é, para além, o estudo das redes sociais, situações sociais e diferentes formas da realidade social. Investigar o sentido do adoecimento é, segundo o autor, uma jornada para dentro dos relacionamentos. O estudo da experiência do adoecimento é fundamental para compreendermos acerca da condição humana, da realidade cotidiana de indivíduos comuns, como qualquer um de nós, que precisam lidar com as demandas e circunstâncias de vida.
No início de nossa pesquisa defendíamos esta mesma hipótese de que a percepção da realidade, pelo sujeito que adoece, ultrapassa fatores psicológicos individuais, haja vista que interage com as forças que subjazem as relações sociais desta mesma realidade, conforme o que foi dito anteriormente em relação aos conceitos de campo/organismo. Ao fim de nossa trajetória, chegamos ainda mais próximos da convicção da importância de se considerar as forças do campo em que o organismo se encontra, na hora de compreender o sofrimento próprio da condição humana.
Perls (op. cit., p. 40) também falou de um ideal comunitário, em que cada membro contribuísse para que tanto suas necessidades quanto as de outros fossem satisfeitas, de modo que a sociedade estivesse em contato íntimo com cada um de seus membros. Segundo ele, o princípio da auto-regulação também governa a sociedade. No mundo atual é comum vermos disseminada a idéia de que o homem precisa se adaptar ao mercado de trabalho e à visão empresarial moderna. No entanto, na perspectiva sistêmica e holística que defendemos, Alvim (2000) apregoa o equilíbrio que deve haver entre as demandas da organização, dos indivíduos e do ambiente. Na mesma tese, aponta, conforme Merry e Brown (1997, p. 75), a necessidade de um movimento recíproco: “A organização precisa ser capaz de sensoriar as necessidades de cada subunidade para preencher suas funções efetivamente e se desenvolver”.
No caso em pauta, identificamos elementos da organização do trabalho que privaram o sujeito de apropriar-se de um sentido para a tarefa desempenhada e de imprimir sua marca pessoal a ele e que contribuiram de forma significativa para seu adoecimento. O modo idiossincrático de funcionar deste sujeito frente a tais estímulos também foi objeto de consideração e estudo, uma vez que a forma peculiar de lidar com a realidade implica e conclama o sujeito à sua responsabilidade particular nos processos de adoecimento e cura.
Concordamos com Rossi (op. cit.) quando afirma que todos nós mantemos em nosso poder a chave de nossa própria saúde e bem-estar, uma vez que a conexão mente-corpo é um processo real, que pode ser observado e acessado por meio de psicoterapia: processo para converter sintomas em sinais e problemas psicobiológicos em recursos criativos. Os processos psicológicos do cliente/caso se apresentaram como passíveis de reconfiguração durante o trabalho psicoterápico, o que possibilitou a boa resolução de seus conflitos interiores. Conseqüentemente, o cliente pôde reestruturar-se física, psicológica e profissionalmente, dando início a uma nova etapa de vida.
Corroborou-se, por fim, a idéia inicial que vaticinava saldos positivos para os que sofrem da síndrome do pânico, a partir do modo como conseguem perceber tal transtorno no processo de sua existência. J. A. pôde considerar seu adoecimento como um divisor em sua vida: Antes, a fixação, depois, a fluidez; antes, a retroflexão, após, o contato final: muito mais natural, autêntico, consciente. Acreditamos, piamente, que poderá ser assim com muitos outros. Conforme Forghieri (2004, p. 32), confiantemente atesta: “[...] meu passado não fixa o meu modo de ser, pois posso me modificar, compensando muitos dos meus erros, como posso aperfeiçoar as minhas virtudes [...] posso modificar o decorrer de minha vida.”
Chegamos ao
ponto em que se torna necessário relembrar o alerta proposto por Gil
(op. cit.) ao pesquisador, na hora de analisar e interpretar os dados de um
estudo de caso: atentar para a falsa sensação de certeza, julgamentos
implícitos, intuições, opiniões de senso comum etc.,
passíveis de ocorrer quando se utiliza tal metodologia. Conforme deixa
claro, a própria questão da amostra impossibilita generalizar
dados. Não concluímos o trabalho fazendo afirmações
de qualquer natureza, simplesmente desejamos marcar nossa presença em
dois grupos: um, que reconhece a existência de fatores fortemente adoecedores
na organização do trabalho, como vimos no caso em apreço
e, que, enquanto composto por profissionais da saúde, se posicionam e
lutam a favor de ações voltadas às melhorias de qualidade
de vida no trabalho e nas organizações; e um segundo, que considera
a necessidade de descobrir o sentido idiossincrático do adoecimento em
cada pessoa singular, sem ater-se previamente a generalizações
de qualquer natureza.
Alvim (2006) cita Merleau-Ponty, que já falava de um espírito
selvagem, uma dimensão do ser que não se domestica e que tem o
poder transformador da cultura. Também ressalta a tonalidade política
e sociológica presente na obra de Fritz Perls, que convida o homem a
desafiar a manipulação e o controle, tornar-se real e aprender
a assumir uma posição. Ele mesmo propõe o trabalho clínico
da Gestalt-Terapia como uma possibilidade de convidar o homem a uma existência
com presença, possibilitando uma relação mais construtiva
e prazerosa com o trabalho.
De tal feita, desejar ter uma identificação a partir de um trabalho
significativo e prazeroso, na realidade, não é prerrogativa apenas
de J. A., mas de todo ser humano. Citando Codo; Sampaio; Hitomi (1992), Alvim
(2006, p. 6) relembra que “trabalhar é impor à natureza
nossa face. O mundo fica mais parecido conosco e, portanto, nossa subjetividade
ali, fora de nós, nos representando”. Conforme Sennett, tal necessidade
é imperativa: nossa dignidade depende de moldar novamente o mundo que
herdamos. Citando Pico Della Mirandola, mexe com nossos brios: “É
ignóbil não dar à luz nada de nós mesmos.”
“Sempre fomos livres nas profundezas de nosso coração, totalmente livres, homens e mulheres. Fomos escravos no mundo externo, mas homens e mulheres livres em nossa alma e espírito”.Maharal de Praga. In: A Alma Imoral.
(1) Mas do que fala um doente,
senão que está doente? Seus pensamentos estão necessariamente
concentrados em si mesmo; ele nem recebe nem pode dar prazer; suas dúvidas
giram sempre em torno de como aliviar sua dor e seus esforços, direcionados
para obter algum conforto momentâneo. (tradução livre)
(2) O Olcadil é um tranquilizante do grupo dos benzodiazepínicos, cuja principal finalidade é controlar a tensão nervosa e os sintomas dos transtornos de ansiedade; o Pondera é um antidepressivo utilizado também para tratar o transtorno do pânico. Já o Propanolol é um antipertensivo usado para conter o tremor causado por certos psicotrópicos.
Referências
ALVIM, Mônica Botelho. Contato e cultura organizacional: ensaio para um modelo psicológico de analise organizacional na perspectiva da abordagem gestáltica. 2000. 263f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Universidade de Brasília - UNB.
___________________. A relação do homem com o trabalho na contemporaneidade: uma visão crítica fundamentada na gestalt-terapia. Revista de Estudos e Pesquisa em Psicologia. UERJ v. 6, n. 2. Rio de Janeiro. dez. p. 122/a10-130, 2006.
AMATUZZI, Mauro Martins. Apontamentos acerca da pesquisa fenomenológica. Estudos de Psicologia, v. 13, n. 1, 5-10. PUC/Campinas, 1996a.
_____________________. O uso da versão de sentido na formação e pesquisa em psicologia. In: CARVALHO, Regina Maia Leme Lopes. Repensando a Formação do Psicólogo: da informação à descoberta. Coletâneas da ANPEPP, set, v. 1 n.9, p.11-24. Campinas, 1996b.
____________________. Por uma Psicologia humana. V.1. Campinas: Alínea, 2001.
BALLONE, Geraldo José; NETO, Eurico Pereira; ORTOLANI, Ida Vani. Da emoção à lesão: um guia de medicina psicossomática. São Paulo: Manole, 2002.
BONDER, Nilton. A alma imoral. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
CARDOSO, Cláudia Lins. A escuta fenomenológica em psicoterapia. Revista do VII Encontro Goiano da Abordagem Gestáltica, p. 61-69. Goiânia: ITGT, 2002.
CODO, W. Relações de trabalho e transformação social. P. 136-151. In: LANE, Sílvia T.M; CODO, W. (Orgs.). Psicologia social. O homem em movimento. 4.ed. São Paulo: Ed. Brasil, 1986.
COUSINS, Norman. A força curadora da mente. São Paulo: Saraiva, 1993.
DAMÁSIO, Antônio. O mistério da consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si. 6. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
DUTRA, Joel Souza. Autonomia para o Desenvolvimento Profissional. In: MOTTA, Fernando C. Prestes; CALDAS, Miguel P. (Orgs.). Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: Atlas, 1997.
ERTHAL, Tereza Cristina Saldanha. Repensando a ética na psicoterapia vivencial. In: ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Org.). Vanguarda em psicoterapia fenomenológico-existencial. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. Cap.3, p.45-80.
FORGHIERI, Yolanda Cintrão (Org.). Fenomenologia e Psicologia. São Paulo: Cortez, 1984.
_______________________. Psicologia fenomenológica: fundamentos, método e pesquisas. São Paulo: Pioneira, 2004.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1988.
GIOVANETTI, José Paulo. Supervisão clínica na perspectiva fenomenológica. In: ANGERAMI-CAMON, Valdemar Augusto (Orgs.). As várias faces da Psicologia fenomenológico-existencial. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. Cap. 6, p.151- 169.
GOMES, William B. (Org.) Fenomenologia e pesquisa em Psicologia. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do RS, 1998. V. 1.
JULIANO, Jean Clark. A arte de restaurar histórias: libertando o diálogo. São Paulo: Summus, 1999.
KLEINMAN, Arthur. The illness narratives. Suffering, healing & the human condition. USA: Basic Books, 1988.
LIRA, Geison Vasconcelos. Md, Msc. Saúde, Cultura, Ambiente e Trabalho. Módulo de Antropologia Médica. UFC. Faculdade de Medicina de Sobral – Ceará. Disponível em:<http://www.medsobral.ufc.br/aulas/s3/dp/antrop/Unidade%201%20- %20Abordagens%20e%20Elementos%20Conceituais%20da%20Antropologia%20Medica.ppt> Acesso em: 02 dez. 2008.
OLIVEIRA, Maria
Helena Barros; VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. As políticas públicas
brasileiras de saúde do trabalhador. Tempos de avaliação.
Saúde em debate, Revista do Centro Brasileiro de Estudos
de Saúde, v. 24, n.55, maio/ago.2000
PERLS, Fritz. A abordagem gestáltica e testemunha ocular da terapia.
2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.
PINHEIRO, Marcelo. A Clínica do Pânico. Revista
IGT na Rede. V.1, n 1. 2004.
Disponível em: <http://www.igt.psc.br/ojs/viewarticle. php?id=32&layout=html>.
Acesso em: 08 set. 2008
RIBEIRO, Jorge Ponciano. Gestalt-terapia: refazendo um caminho.
S. Paulo: Summus Editorial. 2.ed. , 1985.
RODRIGUES, Carmelita Gomes. Disponível em: http://psicopauta.wordpress.com/artigos/>. Acesso em: 06. jul. 2008.
RODRIGUES,
Joelson Tavares. Terror, Medo, Pânico. Manifestações
da Angústia no Contemporâneo. Rio de Janeiro: 7 letras, 2006
ROSSI, Ernest Lawrence. A Psicobiologia da cura mente-corpo.
São Paulo: Livro Pleno, 2003.
SCHWARTZ, Yves. Capítulo 7: Trabalho e uso de si. In: SCHWARTZ, Yves e DURRIVE, Louis (orgs). Trabalho e Ergologia: conversas sobre a atividade humana, p.191-206. Niterói: EdUFF, 2007.
SENNETT, Richard.
A corrosão do caráter: conseqüências
pessoais do trabalho no novo capitalismo. 5.ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.
VENOSA, Roberto. A fenomenologia aplicada ao estudo das organizações
complexas. O caso da institucionalização da autogestão.
In: FORGHIERI, Yolanda Cintrão: Fenomenologia e Psicologia.
São Paulo: Cortez, 1984.
VON FLACH, Maria do Rosário T. Centro de Biossíntese da Bahia. Por que o Urubu é da Cor do Quadro Negro? Um estudo sobre a Síndrome do Pânico. Disponível em: <http://www.biossintese.psc.br/txtcongress2000/congress2000.htm>. Acesso em: 09 jul.2008.
VON ZUBEN, Newton Aquiles. Diálogo e existência no pensamento de Buber, p.71-85. In: FORGHIERI, Yolanda Cintrão (Org.). Fenomenologia e Psicologia. São Paulo: Cortez, 1984.
ZINKER, Joseph C. A busca da elegância em psicoterapia: uma abordagem gestáltica com casais, famílias e sistemas íntimos. São Paulo: Summus, 2001.
Bibliografia recomendada
AUGRAS, Monique. O ser da compreensão: fenomenologia da situação de psicodiagnóstico. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.
BORGES, Janete de Paiva. Percepção e Adoecimento Psicossomático. Trabalho de Conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Psicossomática e Cuidados Transdisciplinares com o Corpo. Orientador: Prof Célia Caldeira F. Kestenberg. B732 - CDD: 152.146f. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2005.
BUBER, Martin. Eu e tu. Introdução e tradução Newton Aquiles Von Zuben. 8. ed. S. Paulo: Centauro, 2004.
CODO, W.; SAMPAIO; J. J. C.; HITOMI, A. H. Indivíduo, trabalho e sofrimento. Petrópolis: Vozes, 1992.
DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000.
RIBEIRO, Walter. Existência – Existência: desafios teóricos e práticos das psicoterapias relacionais. São Paulo: Summus, 1998.
ROMERO, Emilio. Neogênese: o desenvolvimento pessoal mediante a psicoterapia. 2. ed. S. José dos Campos, São Paulo: Novos Horizontes, 1999.
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Diante da solicitação efetuada pela psicóloga Janete de Paiva Borges, CRP 05- 3000134, para liberação de dados fornecidos durante tratamento psicoterápico no IGT- Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, visando elaboração de monografia do curso de Especialização em Psicologia Clínica, o Sr J.A., de livre e espontânea vontade, consentiu em fazê-lo. O referido senhor foi igualmente cientificado de que quaisquer informações que pudessem favorecer sua própria identificação ou de outros porventura citados no contexto, seriam suprimidas, a fim de se preservar seu sigilo, tendo sido identificado apenas por um pseudônimo, o qual foi sugerido por ele próprio. Ressalta-se, adicionalmente, a sugestão do sujeito da pesquisa em fornecer seu depoimento na defesa da monografia.
A participação do Sr J.A. consistiu em liberar o conteúdo de suas falas durante o processo psicoterápico, ler todo o material da referida monografia, fazer perguntas e sugestões acerca do mesmo, verificando sua autenticidade e sentido. Tal procedimento está consubstanciado pela metodologia específica do trabalho proposto - um estudo de caso, com perspectiva fenomenológico-hermenêutica, que pressupõe a coleta de depoimentos de forma interativa e dialógica, entre pesquisador e sujeito. Para além, serviu de base para uma avaliação posterior da consistência e manutenção dos ganhos psicológicos obtidos durante o período em que se deu o tratamento em apreço.
O objetivo do estudo consiste em contribuir para aprofundar o estudo da síndrome do pânico, de forma mais abrangente, considerando-se também os aspectos psicossociais do contexto de vida do sujeito.
Não
há riscos relacionados com a participação. Não haverá
nenhuma compensação financeira / pagamento pelo fornecimento destas
informações.
Os dados obtidos poderão ser reproduzidos apenas em publicações
científicas, respeitando-se o sigilo referendado anteriormente. Uma cópia
deste termo foi entregue ao Sr. J.A., onde constam os telefones do Instituto
de Gestalt-Terapia, ao qual a pesquisadora está vinculada e ao qual poderá
se remeter a qualquer tempo, para solucionar quaisquer dúvidas sobre
sua participação.
Janete de Paiva Borges
E-mail: psicjan@yahoo.com.br
Recebido em: 04/05/2010.
Aprovado em: 04/08/2010.